
Afrotransfeminismo: travestilizando o movimento negro e racializando o transfeminismo
Minha entrada no transfeminismo, como relatei em “O transfeminismo me empoderou”*, fez com que meus olhos se abrissem para outras possibilidades de existência. Não mais pautada pela internalização das violências, mas sim pelo enfrentamento consciente e político de uma melhor qualidade de vida para mim, assim como para a vida das minhas iguais.
Assim como relatei nesse texto – que foi, inclusive, um dos primeiros que escrevi -, o transfeminismo fez com que eu exercitasse minha fala, como também articulou ouvidos para me ouvir. Isso é tão caro quando estamos falando de uma população totalmente desamparada.
Repito essa frase exaustivamente: travestis, infelizmente, tomaram como fato serem sozinhas. É como se no momento que nos reconhecemos enquanto travestis, de maneira automática, somos escanteadas. Pela família, pelas instituições escolares, pelo mercado de trabalho, pelas relações interpessoais, pela sociedade como um todo. Sozinhas, nos acostumamos a tentar curar nossas feridas de maneira paliativa.
E mesmo que sejamos violentadas por discursos religiosos, muitas de nós encontram em Deus algum tipo de consolo, amparo. Afinal, como disse Patricia Penosa, “não temos ninguém pela gente, só Deus” (sic).
No transfeminismo, no entanto, conseguimos criar redes de apoio onde, a partir da vivência de umas e das outras, desnaturalizamos percursos violentos que somos submetidas historicamente. Em “Solidão da mulher trans negra“, trago uma citação da Luiza Bairros em “Orfeu e Poder: Uma perspectiva AfroAmericana sobre a Política Racial no Brasil”, sobre como me foi importante, assim como ela aponta em relação a experiência ‘diaspórica’ de mulheres negras, ter consciência de que minhas experiências eram compartilhadas com outras mulheres trans e travestis.
Esse processo foi crucial para que meus esboços ideológicos e teóricos não cometessem o erro de serem pautados numa perspectiva individual. Indo contra isso, passo a ver a minha identidade e minhas experiências em um plano coletivo. Nesse caso, passa por reconhecer ainda mais a necessidade de uma articulação coletiva de mulheres trans e travestis. Logo, buscar firmar meu compromisso transfeminista.
Porém, dentro desse “devir transfeminista”, encontro uma dificuldade: ainda que, como já dito, compartilhemos ‘mazelas’, minha identidade não podia ser analisada em um único vetor. Não há como analisar minha experiência deixando de lado que, para além de ser mulher trans ou travesti, também sou negra, nordestina, estudante de escola pública e cotista na Universidade Federal de Pernambuco.
Embora o transfeminismo só exista por conta dos questionamentos interseccionais de mulheres negras, feitos à categoria de “mulheridade”, ainda assim persiste que, mesmo quando falando de pessoas trans e travestis, recortes raciais são deixados de lado, só aparecendo quando pautados pelos próprios corpos racializados.
E mais uma vez percebi a produção intelectual de mulheres negras sofrendo com um processo de extrativismo branco. Houve uma apropriação, mas os problemas da população negra foram ignorados. Com isso, não satisfeitas/os, cometemos o mesmo erro do feminismo branco hegemônico: falamos da experiência trans tomando o lugar da branquitude enquanto universalidade.
E ainda que falemos sobre problemas que afligem pessoas trans negras ou travestis negras, visibilizamos o problema, mas não especificamos sob quais corpos esses se colocam enquanto impedimento para uma vida onde a dignidade humana esteja garantida.
Indo contra essa corrente, entrevistei duas “transvestigeneres” negras. Acredito muito nas proposições teóricas-ideológicas de Erika Hilton e Giovanna Heliodoro.
Erika Hilton é estudante de Gerontologia na UFScar e Giovanna Heliodoro é bolsista do curso de História na PUC-MG. Uma vez que sempre me coloco em uma busca incessante de trocar com outras travestis e mulheres trans negras, foi um alívio encontrá-las. Afinal, enquanto negras, ambas reconhecem que nossas análises devem ser interseccionais, dando conta de todos os atravessamentos que nossos corpos sofrem.
Quando conversando com Erika e Giovanna para a construção desse texto, meu primeiro questionamento foi sobre como elas enxergavam a importância de ter uma análise interseccional sobre raça e identidade de gênero, por entender que ambas se entrelaçam e fazem com que trajetórias trans/travestis, muitas vezes, se deem por caminhos mais tortuosos quando se tratam também de corpos racializados.
Para Erika Hilton, o conceito de raça e as lutas do movimento do negro são matrizes dos movimentos revolucionários, abolicionistas e de combate às hegemonias. Sejam elas de gênero, raça, classe, corpo ou de estética. Hilton afirma que, por ser o primeiro movimento que nasce em combate as desigualdades sociais, em combate a subalternidade, a inferioridade por uma característica física, o movimento negro deve ser a matriz de qualquer movimento que busque se colocar numa posição de enfrentamento.
Para ela, não existe perspectiva de luta, de embasamento em outros movimentos, se não beberem das matrizes do movimento negro, que é o primeiro movimento, mas que anda junto com todos os outros, ensinando a reivindicar direitos, a romper estigmas e barreiras.
Hilton ainda pontua que é extremamente importante fazer essa análise interseccional sobre raça e identidade de gênero, porque, a partir disso, ampliamos nossos olhares para as inúmeras questões que envolvem mulheres negras, homens negros, juventudes negras.
Finalizando, Hilton se baseia em Angela Davis para afirmar que gênero, raça e classe não andam desacompanhados. Para ambas, são fatores que andam juntos nas construções de uma sociedade capitalista e hegemônica que mantém seus privilégios e os seus desprivilegiados.
Por isso, discutir em um único viés não modifica, mas sim estagna nossas lutas. E são as mulheres, na visão da estudante de Gerontologia, que têm se debruçado sob a questão biopsicosocial do envelhecimento dos corpos transvestigeneres e negros, quem movem as estruturas, principalmente as mulheres negras e ‘transvestigeneres’ negras.
Logo, para Hilton, é fundamental que se interseccione a discussão para que se haja um movimento social em um âmbito social, um movimento de mudança, mudança de narrativa, de alternância de poder, um movimento de construção de conhecimento científico por e sobre nossos corpos sob um viés de identidade de gênero e raça.
Ainda na primeira pergunta, Giovanna Heliodoro, de maneira excelente, resumiu a importância da construção de um transfeminismo negro. Quando também questionada sobre a existência da interseccionalidade em nossas análises.
Heliodoro é enfática ao afirmar que se reconheceu enquanto transexual e percebeu que era um corpo, e por boa parte das vezes, por ser um corpo negro e carregar a marginalização por assumir esse lugar de corpo estranho perante a sociedade, ficou pensando no quanto somos números. E do quanto isso torna ainda mais difícil esse processo de humanização ao qual tanto buscamos: a naturalização dos nossos corpos.
Heliodoro ao pensar nesses números, afirma se sentir em um entrave ao integrar dois dados, um deles em ser uma 0,02% de travestis e transexuais que estão na Universidade – assim como eu e Erika. Outro indicador, que para ela é o mais pesado, diz que 80% dos corpos assassinados nesse país – que mais mata travestis e transexuais – são corpos tidos como negros.
Por isso, a prounista do curso de História da PUC-MG e afrotransfeminista, visualiza o quão necessário é construir novas formas de discutir sobre transfeminicídio. Pois, se levarmos em consideração qual é a característica desses corpos que estão sendo mutilados, nós percebemos, também, que estamos lidando com o genocídio da população negra.
Por isso, Heliodoro aponta a necessidade de construir seu transfeminismo em uma interseccionalidade entre raça e identidade de gênero.
Confesso que poderia acabar o texto só nas primeiras respostas – tamanho o nível de discussão que as meninas trouxeram. Mas quis ir mais a fundo ao questionar, em seguida, como elas analisam narrativas negras que ignoram a existência de ‘transvestigeneres’ dentro dessas proposições intelectuais, assim como em estatísticas.
Por exemplo, o fato de pouco ser falado que travestis negras também estão sofrendo com o genocídio da população negra, como apontou Heliodoro. Também me interessei em saber como elas analisam discursos trans e travestis que ignoram o racismo enquanto estrutural e estruturante.
Hilton, em quem irei me apegar para tentar sintetizar as respostas de ambas para essa questão, respondeu que não se deve romantizar os oprimidos, nem suas diásporas de combate às opressões, achando que, enquanto oprimidos, estamos todos na mesma língua.
Para ela, a importância da interseccionalidade existe, também, para que ambos os lados compreendam como esses mecanismos atacam. Tanto as mulheres transvestigeneres brancas precisam entender o racismo, quanto a população negra precisa entender os mecanismos da transfobia.
Hilton considera extremamente complicado e transfóbico apagar a questão estética, afetuosa, do trabalho, e da escola para as pessoas transvestigeneres. Para ela, é nos assassinar, apagar nossas identidades, é nos renegar dos quilombos.
“Quando uma mulher negra não aceita uma fala de uma travesti negra, quando um homem negro desconsidera uma travesti negra, é bater a porta do quilombo” (sic), afirmou Hilton. Que costuma perguntar: “vocês pensavam que no período colonial existia uma senzala para a cisgeneridade e outra para a transvestigeneridade?” (sic).
E é por compreender que precisamos entender as opressões de maneira interseccional que Erika Hilton defende a urgência de se falar das histórias dos movimentos negros dentro dos movimentos trans. Isso porque a branquitude transvestigenere não está isenta de reproduzir o racismo, assim como a população negra não está isenta de reproduzir transfobia.
É por isso que, para ela, então, é necessário existir um processo pedagógico onde os indivíduos reconheçam que sofrer com uma opressão não isenta de corroborar para outras. Por isso, ela defende um exercício contínuo de desconstrução e [re]construção, para se existir a interseccionalidade e a consciência das contribuições do movimento negro e do movimento trans.
De maneira similar ao que defendo em “A transfobia é um vício branco”, Hilton finalizou afirmando que, assim como os opressores aprenderam entre si para oprimir, nós também precisamos aprender uns com os outros a partir de um movimento ancestral e nos libertar de nossas opressões. E, assim, não violentar os corpos de pessoas da nossa própria comunidade negra.
E é por acreditar imensamente na construção de trocas significativas entre pessoas negras, em nossa caso, travestis e mulheres trans negras, que finalizei a conversa indagando sobre o que faz com que elas acreditem no projeto transfeminista negro.
Gostaria de saber o que as move enquanto transfeministas negras, para, inclusive, poder potencializar minha própria concepção do que entendo enquanto “afrotransfeminismo”, termo que venho usando desde meados de 2014/2015.
Giovanna Heliodoro, que é quem fez postagens contundentes criticando a invisibilidade das mulheres trans negras percursoras do movimento LGBT, retoma essa discussão e afirma lembrar da Marsha P. Johnson para pensar sobre a representatividade LGBT. Por perceber que o movimento/comunidade não reconhece que a base de tudo fomos/somos nós (‘transvestigeneres negras’). Por isso, o transfeminismo negro, na concepção dela, seria a solução. Por pensar nas nossas dificuldades, em como ficamos para trás, esse transfeminismo negro surge diante de dados e demandas sociais que estão intrinsecamente entrelaçados com a questão racial.
Quando conversando com a Giovanna, foi lindo ouvir que a inspirei e que ela estava feliz de trocar comigo. Para mim, como já defendido, o transfeminismo negro é sobre encontros e, nesta mesma perspectiva, Erika Hilton, cirurgicamente, afirma que é extremamente importante, necessário e urgente a construção de um discurso, a construção de um pensamento, de uma concepção de ideia sobre um transfeminismo negro.
Ela defende isso tendo como justificativa o fato de que vamos nos encontrar e criar códigos e linguagens que nos enxergamos, que nos olhamos. Iremos criar perspectivas – de vida, de estética, de conhecimento, de estratégias de hackeamento da feminilidade hegemônica e cisgênera que nos é negada. Mas, ao mesmo tempo, nos é exigida. Ao mesmo tempo nos é ridicularizada. E, por outro lado, é fetichizada.
Para Hilton, é importante, necessário e urgente a construção de um pensamento que dê conta de nossas especificidades, que contemple as nossas vulnerabilidades, tristezas e alegrias. Afinal, isso modifica tudo: como nos enxergamos, como nosso corpo atravessa o mundo e todas as relações que construímos.
A importância desse transfeminismo negro, para ela, é demarcação de nossos corpos, de nossas vozes, de nossas experiências, de nossas especificidades.
Ter entrevistado e ouvido as respostas de Erika, assim como as de Giovanna, para a construção desse texto objetiva expor a construção – mesmo que ainda prematura – de um transfeminismo negro brasileiro. Enquanto engajamento político de ‘transvestigeneres’ negras, só me fez ter a certeza que nós modificamos tudo. O mundo, a concepção de feminino, a concepção de negro.
O transfeminismo negro, enquanto engajamento político de mulheres trans e travestis negras, é um novo projeto de sujeitos e de mundo.
Saiba mais sobre a escritora e as entrevistadas:
Erika Hilton: afrotransfeminista e putativista. Graduanda em Gerontologia pela Universidade Federal de São Carlos. Idealizadora e coordenadora do cursinho pré-vestibular da USP São Parcos para pessoas T.
Giovanna Heliodoro: afrotransfeminista, graduanda do curso de História pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, artista independente, pesquisadora de gênero, articuladora política e social. Integrante do Coletivo de mulheres negras Abayomi Entre Nós, o MONART (Movimento Nacional de Artistas trans) e é protagonista do Canal Trans Preta no Youtube.
Maria Clara Araújo: afrotransfeminista, graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco, pesquisadora em pedagogias decoloniais/decolonialidade, idealizadora do projeto “Pedagogia da Travestilidade” e colaboradora das blogueirasnegras.org e site transfeminismo.com
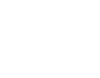
Muito bom o texto. Mas preciso fazer alguns apontamentos, por favor me desculpe.
Certamente em muito se parecem nas dores o movimento negro e o movimento transfeminista. Negras e trans, independente da sua raça, são mortas com os mesmos requintes de crueldade, e para ambas as populações existe um genocídio em andamento. As dores sentidas na carne oriundas da transfobia e do racismo em muito se parecem, na desumanização, na animalização, no silenciamento, no apagamento, e de muitas outras formas. Entretanto, essa aproximação fica restrita à superficialidade, pois elas em nada se parecem na origem. Todas as concepções e conceitos de gênero estabelecidos e propagados por muitas feministas negras da história, são concepções de gênero cisgêneras, onde a ideia do que é ser mulher está atrelada a uma forma historicamente reconhecida por feminina. Muitas são as travestis e transexuais que buscam uma forma corpórea através do seu processo de transição que seja validada pela cisgeneridade, elas se entendem e são aceitas como mulher se assumirem essa forma de mulher imposta. E isso é, de certa forma, transfobia internalizada, e muitas de nós conhecemos como passabilidade.
O movimento negro não é o primeiro movimento a lutar contra a hegemonia, a lutar contra a opressão sobre os corpos. Ao longo da história muitos movimentos surgiram contra o machismo, contra o racismo e contra a cisgeneridade em diversas partes do mundo, em diferentes épocas. Dizer isso é apagar todo um legado da forma como o movimento trans se propagou e resistiu no mundo e na história. Além disso, o movimento negro é um movimento cisgênero, feito para pessoas cisgêneras e por pessoas cisgêneras e não existe aproximação, por mais que essa aproximação queira ser feita no sentido de ser dado encaminhamento às lutas de forma unida, o que eu acho super positivo, diga-se de passagem.
Entretanto, dizer que o transfeminismo se constitui a partir do movimento negro cisgênero é como dizer que a negritude se constitui e se constrói com pessoas brancas. Se não é verdade para um, também não é verdade para outro. A forma de pensar, viver, expressar sexualidade e existir de pessoas não-cisgêneras, seja da raça que for, são completamente díspares do pensar cisgênero. Eu entendo que quando pegamos para ler Angela Davis ou Djamila conseguimos reconhecer as nossas dores nas falas delas, e conseguimos, através do pensar, estender suas teorias e concepções para a nossa realidade nâo-cisgênera, pois a forma como as opressões se manifestam, a violência que nossos corpos sofrem, são bem parecidas, apesar da população não-cisgênera ser infinitamente mais precarizada que a população negra. Afinal, a transgeneridade possui religião própria, sexualidade própria, identidade própria, constituição familiar própria, cultura própria. Dizer que o transfeminismo nasce do movimento negro não é só apagar toda essa identidade ancestral, é também negar que o transfeminismo, e consequentemente as pessoas trans, seja capaz de produzir as suas próprias concepções, é negar que seja capaz de produzir o seu próprio pensar e o seu próprio existir, e é negar que seja capaz de resgatar toda essa identidade ancestral que se manteve à margem de toda a civilização cisgênera.
Não tenho dados sobre como os corpos das pessoas não-cisgêneras eram tratados dentro dos quilombos, se você possuir algum, por favor me indique a leitura. Mas quando olhamos para o passado da transgeneridade, a forma que os nossos corpos eram tratados sempre foi a mesma, violência e morte, seja qual for a raça, seja qual for a cultura, seja qual for a região do mundo, seja qual for a língua, seja qual for a época na qual você queira fazer o recorte, o tratamento é sempre o mesmo, não é de agora, não é de 500 anos para cá, é de muito antes. Pois o conceito de gênero é o conceito mais perpetuado e conservado que existe na humanidade toda, e quando a identidade não-cisgênera se manifesta na realidade cisgênera do mundo, ela não é permitida existir.
Eu entendo que uma mulher trans negra racializada sinta a necessidade de recortar a sua dor específica, atrelada diretamente à sua raça e à sua identidade de gênero, ressaltando dores únicas que só vocês sintam, e entendo que esse pensar é criado com base na grande profusão de escritoras e feministas negras que surgiram de 1900 para cá. O material disponível é muito vasto, e a leitura muito boa e inspiradora. Entretanto, existem pensares, escritores e produções que levam esse debate além da questão racial, uma vez que a transgeneridade ultrapassa a questão racial pois existe em todas as raças e todas as raças oprimem as identidades não-cisgêneras de forma igual. Eu não sofro racismo, mas entretanto eu observo. E o que eu observo é que os corpos não-cisgêneros, brancos, negros ou indígenas, são tratados praticamente iguais pelas pessoas não-cisgêneras, as exclusões são as mesmas, as violências são as mesmas, independente do recorte classista ou social que se faça.
E quando eu leio um texto desses, eu leio uma irmã querendo dar ênfase a uma dor específica dela por uma questão de raça. Eu tenho a minha dor específica por ser lésbica, mas nem por isso revindico criar um movimento lesbotransfeminista, ou coisa do tipo, porque entendo que todas essas especificidades, todos esses recortes – raça, religião, orientação sexual, cor, etnia, gênero, etc. – se configuram de forma única e totalmente diferente dentro do transfeminismo do que da forma como ela se configura dentro da cisgeneridade, somos muito mais próximas entre nós, mesmo sendo eu branca e lésbica e você negra e heterossexual(?), do que você de qualquer mulher negra cisgênera. Da mesma forma o transfeminismo não é só para falar de opressão, e muito menos com intuito de contemplar somente os corpos trans cisgenerificados que ainda se entendem presos ao conceito cisgênero de gênero (homem/mulher). O movimento trans no Brasil vem crescendo, e trazer questões como “movimentos dentro do movimento”, caixas de dentro de caixas, é aprisionar a sua identidade ao seu corpo, é dividir o pouco que já tem, e é invisibilizante para outros recortes dentro da transgeneridade. Não temos que falar só de opressão, temos que ir além.
Acredito que o transfeminismo, aliás nem acho que este deva ser o nome, deve se construir unicamente com pessoas não-cisgêneras, a partir de pensadores não-cisgêneros, com toda a gama e a pluralidade que a nossa comunidade possui, ao invés de criar sub-identificações particulares que foram construídas dentro da cisgeneridade. Ser lésbica para uma mulher trans é completamente diferente do que é ser lésbica para uma mulher cis, e debater a lesbianidade cisgênera, em espaços e construções cisgêneras não me contempla. Eu quero um debate lésbico dentro da transgeneridade com as minhas irmãs héteras e bissexuais, da raça que for, em conjunto. Não um movimento à parte. Não um movimento que se enraíza a partir da cisgeneridade. Quem divide, classifica, e categoriza o tempo todo é a cisgeneridade, não nós.
Eu revindico um movimento próprio, com uma identidade própria, e não com uma identidade que se mistura e se perde dentro das estruturas erguidas pela cisgeneridade. Meu corpo é fluido, meu gênero é fluido, minha orientação sexual é fluida, minha identidade não está presa ao corpo, apesar de que, por conta de violências e opressões vividas no passado, eu encontre conforto dentro da mulheridade e dentro da lesbianidade.
Olha, não sei consegui me fazer entender. Não quis lhe ofender em momento algum. E me desculpe pelo texto enorme.
Bom dia, meninas,
Muito obrigada pela publicação, Maria Clara, Érika e Giovanna.
Joana, te agradeço demais pela contribuição do teu comentário e pela gentileza que trouxe nas palavras. Espero, com sinceridade, que você floresça ainda mais na sua caminhada de construção e compreensão de si.
Na verdade, é meu desejo para todas nós.
Um abraço,
Bela~