
Algumas considerações sobre o massacre negro brasileiro
Por Dudu Ribeiro
Em 2014, quando atuava ainda como Ministra da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), Luiza Bairros nos perguntava: “Se não fizermos um esforço de aumento de escolaridade dos nossos jovens e adultos jovens agora, principalmente os negros, onde e como estaremos em 2030?”
Os prejuízos do racismo podem ser mensurados, medidos, e não afetam apenas a população negra. Pelo contrário, a não inserção da população negra brasileira na economia, em um país onde negras e negros representam mais de 100 milhões de pessoas, gera custos e prejuízos para a sociedade como um todo.
O Brasil segue como o país que mais mata pessoas negras no mundo. Das 60 mil pessoas assassinadas todos os anos no Brasil nas últimas décadas, mais de 70% são negras. A maioria também são jovens, em plena idade produtiva e criativa, moradores e moradoras de bairros periféricos em grandes e médias cidades brasileiras. Por outro lado, é o terceiro país que mais encarcera pessoas no mundo, com mais de 700 mil pessoas presas, a maioria negras, sem condenação, e sem ter cometido crimes violentos.
O ciclo de violência alimentado pelo inchaço do sistema prisional e sua consequente ampliação de ambientes para atuação de recrutamento por organizações criminais é em si um tema amplo demais para explorarmos aqui. Mas, além de apontar como fator importante, o trago também para afirmar que tais organizações, frequentemente chamadas de “organizações criminosas”, não existiriam sem conivência, participação e financiamento de agentes do Estado, nos três poderes, além de poderosos grupos econômicos transnacionais.
O mercado varejista de drogas que frequentemente é alvo das operações policiais, sangrentas, midiáticas, mal informadas e de fato pouco efetivas na oferta do serviço “segurança pública” (direito de todas as pessoas e dever do Estado segundo o artigo 144 da Constituição Federal), não é nem a ponta do iceberg do lucrativo mercado de drogas. Um mercado que movimenta cerca de 500 bilhões de dólares no mundo precisa de banco, de chefe de Estado, de burocracia estatal para circular e se reproduzir. Precisa de aeroporto, de estrada, portos, heliportos e pistas clandestinas em fazendas para chegar aos revendedores.
A guerra às drogas serve às elites em diversos territórios ao redor do mundo para atualizar práticas históricas de violência, de controle e punição a populações subalternizadas. São extensões de sofisticados mecanismos de perpetuação das diferenças e hierarquias sociorraciais oriundos do colonialismo e da escravidão.
Em diferentes épocas, a partir de diferentes substâncias, com inúmeros objetivos, o uso de substâncias psicoativas faz parte da história da humanidade. A virada para o século XX , em resposta aos conflitos sucessivos e o fim da escravização formal em diversos lugares ao longo do século anterior, é também o palco onde se desenvolve e se consolida uma nova categoria até então exterior ao tema das drogas: a ilicitude e a sujeição criminal do comércio e uso de algumas substâncias.
Esses elementos são aqui importantes para entendermos que o início da cruzada contra as drogas, e os seus efeitos práticos na vida do povo brasileiro, tem conexões históricas com o racismo brasileiro e a busca naquele período por definir na legislação brasileira o entendimento do que era crime, a partir de uma predefinição do criminoso orientada por teorias sobre pureza de raça, e de inferioridade “natural” das pessoas negras.
Quando o professor da Faculdade de Medicina da Bahia, Rodrigues Dorea argumenta em 1915, em um Congresso Científico nos Eua, que a maconha era uma vingança dos negros contra os brancos, um retorno por terem usurpado sua liberdade, se importava em acentuar o potencial contaminador do “sujeito negro” e suas práticas, inibidor do “processo civilizatório brasileiro” (1). A proibição da maconha em todo território nacional e outras substâncias, decretado em 1932 por Getúlio Vargas, se conectava com um conjunto ainda mais amplo de proibições e restrições a práticas que impedissem a circulação da população negra egressa da escravidão nas cidades: a proibição das religiões de matriz africana, a perseguição ao jogo do bicho, e a criminalização, essas desde o império, da capoeira e da “vadiagem” são alguns desses mecanismos. Somado a isso, a institucionalização de unidades nas áreas médicas em formação do Brasil voltadas para a propagação do pensamento eugenista.
Ao mesmo tempo, se desenvolve no Brasil um percurso de onde emerge as teorias que constroem o mito da democracia racial, preocupadas em atualizar o entendimento sobre a miscigenação no Brasil a partir do apagamento dos processos de violência, estupros e torturas que estão na base da formação do povo brasileiro. Uma teoria que preconiza uma igualdade liberal formal e que teve, na maioria das vezes, omitido a questão racial ou relegado a segundo plano nas análises sobre a formação histórica do Brasil. Já não se pode percorrer esse caminho, frente ao desmonte sistemático e avassalador que inúmeras intelectuais brasileiras fizeram desse mito e graças ao volume das suas contribuições temos instrumentos muito mais eficazes para observar a nossa história.
A importância de resgatar Luiza Bairros no início dessas breves elaborações se conecta com um processo que nos orienta na ação política, e ao mesmo tempo, nas formulações teóricas, e que segue como ponto fundamental dentre as intenções do presente texto e de nossa caminhada: contribuir para o combate ao epistemicídio, o aniquilamento da nossa produção de conhecimento, que outra importante intelectual de nosso tempo sempre nos convoca, a paulistana Sueli Carneiro..
Para Carneiro, o aparelho educacional tem se constituído, de forma quase absoluta, para os racialmente inferiorizados, como fonte de múltiplos processos de aniquilamento da capacidade cognitiva e da confiança intelectual. “É fenômeno que ocorre pelo rebaixamento da autoestima que o racismo e a discriminação provocam no cotidiano escolar; pela negação aos negros da condição de sujeitos de conhecimento, por meio da desvalorização, negação ou ocultamento das contribuições do Continente Africano e da diáspora africana ao patrimônio cultural da humanidade; pela imposição do embranquecimento cultural e pela produção do fracasso e evasão escolar. A esses processos denominamos epistemicídio”, afirma (2).
Por esse motivo, buscaremos trazer para nos guiar pelos cruzamentos e encruzilhadas que aqui propomos atravessar um conjunto de formulações de autores e autoras negras fundamentais para processos de mudança profundas que a intelectualidade negra continua realizando no Brasil hoje, ainda que enfrentando um massacre por dia.
Os aspectos do existir, ou deixar existir, se realizam no processo de uma arquitetura de distribuição de oportunidades e reprodução de riquezas para poucos e para a ampla maioria controle, vigilância e punição, dando à expressão máxima da soberania do Estado, a posse do poder e da capacidade de decidir sobre quem pode circular em liberdade nas cidades, quem pode viver essa liberdade e quem não pode, ou quem pode viver e quem deve morrer. É onde entra a necropolítica.
É nesse terreno que o pensador negro contemporâneo Achille Mbembe, camaronês, entende que a racismo consiste naquilo que se consola odiando, manejando o terror, praticando o alterocídio, “isto é, constituindo o outro não como semelhante a si mesmo, mas como objeto propriamente ameaçador, do qual é preciso se proteger, desfazer, ou ao qual caberia simplesmente destruir, na impossibilidade de assegurar seu controle total”(3).
Em 9 de dezembro de 1948 a Organização das Nações Unidas (ONU) por meio de uma convenção definiu como Genocídio quaisquer dos seguintes atos, cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso: (1) assassinato de membros do grupo; (2) dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo; (3) submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem a destruição física total ou parcial; (4) medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; (5) transferência forçada de menores do grupo para outro grupo.
Apesar de consolidado formalmente no campo internacional como crime e, alvo do repúdio da comunidade reunida nas Nações Unidas, em decorrência dos crimes cometidos no Holocausto, uma disputa sobre o conceito de genocídio não expressamente solucionado na Convenção, restringe o seu alcance político em níveis locais, bem como constrói um percurso nebuloso para o reconhecimento das renovadas práticas de genocídio em curso no mundo hoje.
Esse processo de exclusão do sofrimento negro para o mundo jurídico internacional tem base em relações construídas historicamente no mundo pelo colonialismo, que, acentuando a desumanização, amplificando conceitos como “selvageria”’, ou investindo em políticas de militarização de territórios negros, (como o financiamento da guerra às drogas na região latino americano e caribenha, ou promovendo diversos outros conflitos em território africano), restringem a possibilidade de consternação, conscientização e enfrentamento desse verdadeiro massacre, desviando-nos da imperiosa necessidade de frear a marcha fúnebre que empilha corpos negros.
O racismo passa a ser entendido aqui como sugerido por Luiza Bairros como “a ideologia em estado puro”. Para a pensadora, é o racismo que informa e o que possibilita desenvolver o preconceito e praticar a discriminação. É o que sustenta. O racismo engloba todas as relações, passa por dentro delas. É uma ideologia baseada na desumanização do outro, no extermínio do outro. O extermínio do outro só é possível porque há grupos que se supõem superiores, afirmou.
Num contexto global em que episódios violentos inspirados pelo racismo constantemente ocorrem, o grande desafio é tornar o sofrimento local relevante (4). É imperativo. E ao mesmo tempo, criar um campo de entendimento, articulação e enfrentamento que impulsione o reconhecimento do genocídio negro, em África e na diáspora, como uma outra face da barbárie, da violência em massa no mundo contemporâneo, e que deveriam também ser objetos de ação de contenção para as pretensões daqueles instrumentos e de atenção da comunidade internacional; também nos discursos oficiais e nas exposições midiáticas.
Mas é preciso reconhecer que as práticas de genocídio antinegro, que caracterizam países em desenvolvimento, longe de se constituir como uma exceção, fazem parte de um continuum que marca as nações da diáspora negra. Nega-se aos membros das comunidades negras na diáspora o direito de sobreviver plenamente como cidadãos ou seres humanos – o genocídio como um fato constitui o sustentáculo, a base de onde as variadas manifestações de negritude que definem a diáspora são construídas (5).
Essa negação é fundante dos diversos sistemas penais oriundos de práticas punitivas constituídas das relações coloniais, e que é reforçada pela política transnacional de controle de substâncias tornadas ilícitas no século XX. Ambas tem como fio condutor da morte a necessidade da manutenção das assimetrias raciais. Utiliza-se do extermínio e da exploração do trabalho, para um empreendimento global de enriquecimento e empobrecimento de países e populações, de forma que a permite contar com aquiescência da comunidade internacional e complacência dos órgãos de imprensa e dos centros de excelência de produção de saberes, como as universidades e outros centros de pesquisa. O genocídio negro não conta assim com quaisquer censuras nos planos moral ou jurídico[iv].
As tragédias do continente africano (como, em Ruanda, ou Burundi), ou as tragédias das comunidades negras da diáspora (como nos Estados Unidos e Brasil), são formatadas como uma imagem de selvageria intrínseca do “mundo incivilizado”, pela qual autores e vítimas são responsáveis, dada sua natureza inerentemente violenta. Assim, negros seriam os algozes da sua própria morte, deixando intocável o papel da branquitude e da presença colonialista em nossos territórios.
A Terceira Conferência Mundial Contra o Racismo celebrada em Durban, África do Sul, em 2001, apontou, dentre outras medidas, que os Estados realizassem investigações para examinar possíveis vínculos entre processos criminais, violência policial e sanções penais por um lado, e racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata por outro, para que se obtivessem provas e fosse permitido dar os passos necessários para a erradicação de quaisquer desses vínculos e práticas discriminatórias.
Em 2010, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicou o documento técnico Da Coerção à Coesão – Tratamento da Dependência de drogas por meio de cuidados em saúde e não da punição. O documento já reconhecia a necessidade de se investir em estratégias de promoção da coesão social em contraposição à coerção policial, aqui entendida também como a militarização de outros aparelhos do Estado.
Nosso trabalho de pesquisa tem sido buscar as conexões entre uma reconfiguração do modelo de controle social a partir do sistema penal, centrada na atenção dispensada ao controle do uso e comércio de algumas substâncias psicoativas, a partir dos seus instrumentos jurídicos e discursivos, e que, trazido dos quintais das Casas Grandes, consolidam saberes e práticas sobre o crime e o desvio, e a permanência de um conjunto de empreendimentos herdados das relações escravagistas, que compunham um processo de genocídio, e aqui identificado como fundador das relações e práticas punitivas no Brasil.
A atuação dos mecanismos de controle é portanto fundamental, e para sua efetivação, a vigilância permanente formatada sob a construção do criminoso e do crime, que põe não apenas as instituições, mas as pessoas em vigilância do outro, e a punição como reforço negativo e como exercício necropolítico do soberano, são as engrenagens que movem a captura do Estado sobre a vida, a morte e a liberdade no pós-abolição. A guerra às drogas é, afinal, um meio de alcançar a soberania como uma forma de exercer o direito de matar, onde o poder (e não necessariamente o poder estatal) continuamente se refere e apela a exceção, à emergência e a uma noção ficcional de inimigo. Ele também trabalha para produzir a mesma exceção, emergência e inimigo ficcional (6). É onde, segundo Mbembe, a percepção da existência do Outro surge como uma ameaça mortal ou perigo absoluto, cuja eliminação biofísica reforçaria o potencial de vida e segurança do Eu, branco.
No entanto, para dar melhores respostas a essas questões é preciso seguir um percurso sugerido por Débora Maria da Silva, uma das muitas mães que perderam seus filhos no massacre em São Paulo em maio de 2006, conhecidos como crimes de maio, quando mais de 500 pessoas foram assassinadas por agentes do estados entre os dias 12 e 20 daquele mês. Para uma das fundadoras do Movimento Mães de Maio “é preciso deslocar a reflexão sobre a violência policial do âmbito acadêmico/universitário ou das instâncias estatais e paraestatais (supostamente, “não governamentais”, mas na realidade de gestão) para o terreno em que a resistência popular cotidiana contra a histórica violência policial e a crescente militarização das cidades contemporâneas se dá na prática: as vilas, favelas, prisões, centros de medida “socioeducativa”, bairros populares e redes comunitárias, onde há muito tempo não se fala de (e não se resiste a) outra coisa senão o poder punitivo cada vez mais onipresente, que garante a perpetuação da opressão e da exploração histórica sobre o nosso povo” (7).
A agenda da inclusão racial é portanto central para qualquer projeto de desenvolvimento do país.
Luiza faleceu em 12 de Julho de 2016, na cidade de Porto Alegre. Faleceu aos 63 anos e deixou contribuições inestimáveis em mais de 40 anos dedicados à articulação e luta antirracista no Brasil. E foi ela que não nos deixa esquecer que “não se trata mais de ficarmos o tempo todo implorando, digamos assim, para que os setores levem em conta nossas questões, que abram espaços para que o negro possa participar. Essa fase efetivamente acabou. Daqui para a frente, vamos construir nossas próprias alternativas e, a partir dessas alternativas, criar para o povo negro como um todo no Brasil uma referência positiva”.
Referências Bibliográficas
(1) Ver mais sobre Dorea em SAAD, Luísa Gonçalves. “Fumo de negro”: a criminalização da maconha no Brasil. (c. 1890-1932). Dissertação de mestrado. Salvador: UFBA, 2013. (2) Sueli Carneiro – trecho de matéria de 2007 – Espelho com Lazaro Ramos,
disponível em https://www.geledes.org.br/epistemicidio/ (3) MBEMBE, A. “Necropolitics”. Duke, Public Culture, 2003. (4) FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. As fronteiras raciais do genocídio. Direito, Brasília,v.
1, n. 1, 2014 (5) VARGAS, Joao H. Costa . A Diáspora Negra Como Genocídio: Brasil, Estados Unidos Ou Uma Geografia Supranacional Da Morte E Suas Alternativas. Revista da ABPN, v. 1, n. 2 – jul.-out. de 2010. (6) MBEMBE, Achille. Crítica da Razão Negra. Lisboa: Editora Antígona, 2014 (7) DARA, Danilo e SILVA, Débora Maria da. Mães e familiares de vítimas do Estado: a luta autônoma de quem sente na pele a violência policial. In: Bala Perdida: Boitempo, 2015.
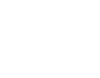
Excelente artigo que funcionou como uma reflexão abordando situações que me passavam a margem da situaçao racial do negro contempotâneo