
A transfobia é uma problemática brasileira
No mês de julho abri meu Facebook e me deparei com uma notícia que reportava a morte de uma travesti, em Mato Grosso do Sul, que teve sua cabeça esmagada e seu corpo esfaqueado. Mal tinha acordado, mas minha/nossa realidade já me preparava para o dia que iria se seguir.
Durante todo aquele dia, lembro o quanto me mantive inquieta. Com uma sensação ruim de insegurança e desamparo. Afinal, como alguém consegue esfaquear uma travesti e, não satisfeito, esmaga sua cabeça para dificultar identificação do corpo?
O que me deixa ainda mais triste é que, ainda que a moça seja identificada, presumo que o assassino continuará livre, assim como inúmeros outros ainda estão.
Um exemplo são os assassinos de Laura Vermont. Em 2017, o G1 soltava a matéria “Após 2 anos, assassinos de Laura Vermont continuam soltos”. Laura tinha 18 anos e foi assassinada em 2015 na Zona Leste de São Paulo. Seu assassinato também teve o envolvimento de policiais e, com muita sinceridade, acredito que só conseguimos o que conseguimos porque muito foi falado sobre a crueldade do caso. Afinal, se havia vídeo de Laura, ensanguentada, pedindo ajuda, a garota foi negligenciada antes de vir a óbito e continua sendo ao naturalizarmos as mortes de travestis, chegando ao ponto de viabilizar meios e alternativas para os culpados não serem punidos.
Poderia discorrer por dias, falando de inúmeros casos, mas todas essas histórias de terror também me afetam. As instituições brasileiras não desejam assegurar nosso princípio da Dignidade Humana, assim como garantir proteção para todas nós.
Para mim, discutir transfeminicídio enquanto uma problemática brasileira é apontar que o projeto de genocídio de travestis e pessoas trans faz parte da constituição da identidade nacional do brasileiro. Quando digo isso, não estou afirmando que só somos mortas no Brasil, mas, sim, que não basta só compreendermos a identidade travesti enquanto situada no Sul Global. Para além de localizar a geografia de onde o nosso corpo está inserido, também é preciso esmiuçar como processos culturais da nossa nação apresentaram, reforçaram e materializaram a subordinação e marginalização dos nossos corpos enquanto um fato intransponível da nossa cultura.
Proponho aqui esmiuçarmos as pedagogias culturais que tornaram nossos assassinatos um dever da nação. Dever, inclusive, aprendido desde muito cedo. Por exemplo, não é difícil encontrarmos matérias de travestis mortas por jovens menores de 18 anos, como também é palpável para todas nós como é identificável a transfobia desde cedo em adolescentes.
Se essas violências sistemáticas acontecem por décadas e, ainda assim, em pleno 2018, não conseguimos afirmar que existe um aparato que melhore em nível nacional nossas condições de vida, é plausível afirmar que o Brasil não as visualiza enquanto uma problemática brasileira. Na verdade, me questiono se somos, sequer, vistas enquanto cidadãs da nação. Afinal, uma vez que estudo pedagogia e analiso teorias educacionais, percebo que a noção de cidadania apresentada no processo de escolarização tem ligação direta com processos de humanização/desumanização. Logo, se nós fomos desumanizadas, isso se deu pelas mesmas instituições que “formam” o cidadão, por compreender que a desumanização é resultado de uma ordem oriunda dessas mesmas relações de poder e dominação.
Falo sobre a morte de travestis enquanto uma problemática brasileira, muito influenciada por Grada Kilomba afirmando que o racismo é uma problemática branca. Outro pensamento que também me influencia na afirmação, é “Branquitude e Branqueamento” de Maria Aparecida Silva Bento. Em uma parte do artigo, ela afirma:
“Há algo semelhante a um acordo no que diz respeito ao modo como explicam as desigualdades raciais: o foco da discussão é o negro e há um silêncio sobre o branco. Assim, o que parece interferir neste processo é uma espécie de pacto, um acordo tácito entre os brancos de não se reconhecerem como parte absolutamente essencial na permanência das desigualdades raciais no Brasil. E, à medida que nós, no Ceert, fomos ministrando cursos dirigidos ao movimento sindical, tornou-se mais aguda a percepção de que muitos brancos progressistas que combatem a opressão e as desigualdades silenciam e mantêm seu grupo protegido das avaliações e análises. Eles reconhecem as desigualdades raciais, só que não associam essas desigualdades raciais à discriminação e isto é um dos primeiros sintomas da branquitude. Há desigualdades raciais? Há! Há uma carência negra? Há! Isso tem alguma coisa a ver com o branco? Não! É porque o negro foi escravo, ou seja, é legado inerte de um passado no qual os brancos parecem ter estado ausentes.”
Para Bento, o silêncio dos/sobre os brancos faz com que eles se desresponsabilizem das desigualdades raciais. Quando li esse texto, a frase “o foco da discussão é o negro e há um silêncio sobre o branco” foi cirúrgica.
O que acarretaria se para além de entender o transfeminicídio enquanto algo que nos atinge no Brasil, também fosse apontado enquanto uma problemática do outro? Nesse caso, do brasileiro?
Se também existe um acordo tácito da população brasileira em não se responsabilizar pelos assassinatos de travestis, quais seriam as saídas para falarmos de transfobia não só em nossos núcleos?
Dentro dos movimentos sociais e dos partidos de esquerda, como a transfobia estrutural e o transfeminicídio têm sido discutidos? Se quer, são discutidos? Se sim, existe um processo de instrumentalizar formas de combater a transfobia naturalizada e o transfeminícido enquanto um genocídio em solo brasileiro?
Se reconhecem que travestis vivem situações precarizadas de vida, o que os leva não se verem enquanto parte desse processo, quando poderiam, mesmo nas relações micro, mudar esse quadro, ainda que minimamente?
Quando convidada pelo Usina de Valores para discutir sobre valores que são erroneamente usados como justificativa para violências cometidas contra mulheres, tendo como ótica minha perspectiva enquanto uma travesti negra, logo pensei em não recair em um texto que discutisse exaustivamente sobre as violências que sofremos.
Minha meta é endossar uma conversa iniciada em “Brasileiros possuem uma dívida histórica com travestis” e, mais uma vez, trabalhar em um viés que lance posicionamento e responsabilidade enquanto uma demanda para aqueles que afirmam defender um novo projeto de mundo e de sociedades.
Por muito tempo nós não marcamos/nomeamos pessoas cisgêneras. Isso fez com que elas tomassem suas experiências enquanto verdades essencialistas. Por muito tempo acreditou-se que só pessoas trans e travestis possuem identidade de gênero, mas foi a partir da construção da categoria analítica de cisgeneridade, oriunda do pensamento insurgente de travestis e pessoas trans, que podemos, de maneira bem similar aos intelectuais negros nomeando a branquitude, inverter o processo e demarcar que assim como nós nos construímos enquanto travestis e pessoas trans, pessoas cisgêneras também possuem suas trajetórias de identidade de gênero.
Em situações assim, como bem coloca Grada Kilomba em entrevista com Djamila Ribeiro para Carta Capital, o que estão sendo construídos são novos discursos sobre a diferença. Para ela, não faz sentido que a população negra entenda que a demarcação da diferença é anterior à violência racista. Grada defende que, na verdade, nos tornamos diferentes através da violência. A diferença não é usada como justificativa para a violência, mas sim a violência cria a diferença.
Se o sujeito negro só se torna diferente quando o branco se vê como ponto de referência, o que ocorre é a branquitude se lendo enquanto norma da qual os outros se diferem. Logo, para compreendermos e desconstruirmos o que é diferença, a omissão do sujeito em lugar de norma precisa ser apontada e demarcada.
No nosso caso, analisarmos a cisgeneridade, como ela se constitui e quais são as violências que a mesma naturalizou contra corpos e expressões de gênero diversas, se configura enquanto mais um caminho percorrido visando um projeto de descolonização. Porém, é preciso não cair na armadilha de universalizar a cisgeneridade e suas violências, como se não existissem especificidades na maneira que a transfobia é vivenciada em contexto brasileiro. Falo isso porque acredito, como já dito, que não basta só nos compreendermos enquanto identidades que surgem no contexto sul-americano, mas também investigar de que maneira esse contexto situado se relaciona com nossas identidades.
No Brasil, para pensarmos caminhos mais objetivos e consistentes na luta contra a transfobia, a demarcação da cisgeneridade, a exposição de suas violências e a compreensão da relação Brasil-travestis precisam andar juntas. Se não, ainda que os dados nos mostre que o Brasil lidera o ranking de morte de pessoas trans, ficamos em um nível superficial de análise que não investiga como o transfeminicídio se tornou parte sine qua non da nossa cultura.
Demarcar o cisgênero brasileiro enquanto responsável pelos assassinatos de travestis e pessoas trans, desvelar as realidades brasileiras desses assassinatos com requintes de crueldade e apontar caminhos de reparação a nível nacional, é nos auxiliar em construir uma nação mais segura para nossa comunidade. Tal segurança, obviamente, não irá se materializar se pessoas cisgêneras brasileiras que são contra violências transfóbicas continuem acreditando que instrumentar formas de combate não são necessárias. Partindo mais uma vez do pensamento feminista negro, não basta só sermos contra o racismo, é preciso ser antirracista. No caso de travestis, só ter conhecimento das violências que sofremos, mas não instrumentar alternativas para nossos corpos, é manter a matriz que nos mata de maneira pública por décadas em nosso país.
Portanto, para avançarmos no traçar de um novo marco civilizatório, onde a cidadania seja garantida para as travestis brasileiras, é preciso que a história do nosso país e a forma como nos posicionamos frente ao transfeminicídio sejam revisitados, criticados e reconstruídos.
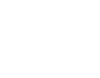
Ótima leitura. Amei!
Nem sei o que dizer, que texto brilhante, maravilhoso e muito esclarecedor, utilidade pública, estou muito feliz por ter tido a oportunidade de ler o mesmo.
Sou uma grande fã do trabalho da maria clara, me ajuda muito a compreender universos diferentes e a saber me questionar e posicionar em relaçao a temas muito importantes para o crescimento e melhora da nossa sociedade. Simplesmente espetacular …. muito agradecida
Texto mto bom mesmo!! Concordo que nao se fala na responsabilidade do cisgênero branco causador de males variados e profundos.
Maria Clara mais uma vez articulou uma frustração minha que não tinha colocado em palavras: a cisgeneridade não se reconhece enquanto classe e sim enquanto norma. Pessoas cis precisam se colocar no seu lugar e transforma-lo num lugar seguro para pessoas trans. Não adianta chegar num espaço trans (que pouco existem) e pautar a transfobia lá, é necessário falar de gênero, transfeminicidio e cisgeneridade no dia-a-dia e nos espaços que são negados a pessoas trans. Deus abençoe Maria Clara Araujo e suas palavras de sabedoria.
Que artigo maravilhoso, Maria! Infelizmente, a sociedade cisgênera e héteropatriarcal nos olha, e nos observa a partir de uma visão de ódio e de subalternidade.
Maria sempre forte e incisiva no que fala, abriu meus olhos para muita coisa. Enquanto continuarmos apenas falando da transsexualidade e tentarmos colocar nela mesma as razões da transfobia e não começarmos a questionar, identificar enquanto classe e desconstruir a cisgeneridade não chegaremos a lugar nenhum nem enquanto esquerda e até mesmo como povo.