
Dignidade humana: ‘Quantas travestis conviveram com você?’
por Maria Clara Araújo / foto 3 por 4 fotografia
Estando em constante aprendizado ao ler os escritos de mulheres negras, aprendi com Lélia Gonzalez e Audre Lorde sobre a importância de não só pontuar meu nome e sobrenome, assim como demarcar o lugar de onde minha voz parte. Por isso, me chamo Maria Clara Araújo dos Passos, tenho 22 anos, resido em Recife (PE), graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco e sou uma travesti negra nordestina.
Expor esses marcadores me são importantes ao escrever esse texto, porque é preciso que o leitor consiga visualizar com clareza o corpo que aqui estará escrevendo sobre o principal fundamento dos direitos humanos: a garantia da dignidade.
Assim como expus no lançamento do projeto Usina de Valores, em São Paulo, falar, escrever, pensar, sonhar com a garantia de minha dignidade, sendo uma travesti negra, me coloca numa posição de contradição. Gostaria muito de escrever um texto sobre esse tema, onde me fosse possível falar sobre como é bom ter esse direito básico garantido, mas esse não é o quadro.
Fazendo parte de um grupo que é, estruturalmente, marginalizado, violentado e desumanizado, travestis falarem sobre direitos humanos parte, talvez, de um lugar de meras espectadoras. Sabem o escrito de Galeano, onde ele relata que quanto mais chega próximo da utopia, mais ela parece se afastar? Estamos de maneira exausta falando sobre como a sociedade precisa enxergar a realidade das travestis enquanto responsabilidade de todos, mas cá estamos, em 2018, com os assassinatos de travestis e pessoas trans chegando a marca de 47, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais. Pontuo, inclusive, que esse dado é de janeiro à março.
Ou seja, possivelmente, quando você tiver lido esse texto, o número já estará maior. Então, não escrevo sobre direitos humanos, sobre dignidade humana, partindo de uma experiência que a conhece, que está familiarizada com uma vida digna que goza de direitos. Esse não é meu caso, nosso caso.
Falando especificamente da vivência de travestis e mulheres trans brasileiras, nos deparamos com processos compulsórios de expulsão escolar – não usamos o termo “evasão” nesse caso, uma vez que compreendemos que travestis são expulsas indiretamente dos âmbitos educacionais -, com a desvalorização de nossas capacidades e aptidões ao tentarmos adentrar o mercado formal de trabalho – e na academia -, com expulsões e desresponsabilizações por parte de nossos familiares e com nossos corpos sendo jogados nas trincheiras que são as esquinas das cidades brasileiras, enquanto única possibilidade de subsídio, de sobrevivência.
Trago esse quadro não enquanto experiência vivida por exceções, mas enquanto uma regra em nossas experiências. Travestis e mulheres trans são, de maneira sistemática, excluídas, escanteadas do viver em sociedade. O que isso nos diz? Que não somos lidas enquanto seres humanos. Afinal, não vivenciamos plenamente as experiências que, segundo muitas narrativas, “constroem” o ser humano enquanto ser que vive em sociedade.
É comum, em minha experiência, perceber como chamo atenção ao andar na rua durante o dia. Qual a razão? Em Recife, durante determinada época, travestis só podiam transitar quando à noite. Isso não era uma lei, mas um entendimento moral. Para que a cidade funcionasse bem, dentro dos parâmetros morais estabelecidos pelos recifenses, travestis não possuíam o direito ao livre trânsito. A nós, restou a noite enquanto único momento em que podíamos ser vistas.
Por essa razão, hoje, eu, assim como outras, lidamos com os olhares de surpresa e repugnância ao perceberem que estão dividindo o mesmo local, o mesmo ônibus, a mesma fila conosco. Isso acontece porque grande parte da população enxerga travestis enquanto um tensionamento vivo aos preceitos morais, partindo de uma interpretação errônea e politicamente situada dos mesmos.
Quando entro no projeto Usina de Valores, afirmo que atribuo uma perspectiva de [re]configurar, de [re]fundacionar tais valores. A partir, obviamente, de novos parâmetros, de outros olhares, influenciada fortemente por perspectivas fincadas no reconhecimento da humanidade das identidades de gênero diversas. Afinal, compreendo que muitas das violências que foram/são cometidas com travestis e mulheres trans tendem a evocar um discurso dito moral, mas que é fundado a partir de processos de assepsia social, de higienização e do não reconhecido da alteridade enquanto uma ferramenta importantíssima, quando o que está em discussão é o viver em sociedade para com as diferenças.
Dentro desse processo de agregar novos olhares, pontuo que ao compreender BEM como minha experiência vivida se relaciona com o resto da população, nesse momento, me vejo mais interessada, como falei no dia do lançamento do projeto, em trabalhar o conceito de reparação. E como bem coloca Grada Kilomba, para a reparação existir, é preciso um movimento anterior: o de posicionamento.
Entro nessa linha de raciocínio porque vou, aqui, afirmar que, no processo de garantia da dignidade humana da travesti, não é o bastante que só exista a narração exaustiva das violências que vivenciamos. É insuficiente, assim como masoquista, só relatarmos as agressões que sofremos. Queremos, agora, pensar em estratégias, mas não sozinhas. E é nesse ponto específico que o posicionamento do outro é exigido, uma vez compreendido sua importância.
É preciso que os grupos interessados no questionamento do atual status quo, se vejam enquanto agentes ativos contra o processo de transfobia que acontece em nossa nação. Só assim será, então, possível que consigamos, de fato, construir pontes que possibilitem o reconhecimento da dignidade humana das travestis e mulheres trans brasileiras.
Quando sou aprovada na Universidade Federal de Pernambuco e escrevo o “MEU MANIFESTO PELA IGUALDADE, SOBRE SER TRAVESTI E TER SIDO APROVADA EM UMA UNIVERSIDADE FEDERAL”, havia um desejo de causar na população brasileira uma comoção – partindo do lugar específico da empatia -, mas que esse sentimento pudesse ser instrumentalizado em ação. Quando falo, quando escrevo, esses atos não se resumem a um verbalismo – termo usado por Paulo Freire ao discutir sobre os processos educacionais brasileiros -, eles, concomitantemente, exigem de mim uma prática.
Do mesmo modo, a escuta, a leitura de vocês não é imobilizada. Na verdade, ela também os exige que consigam esboçar medidas, estratégias, tensionamentos a partir do que conseguiram agregar em seus repertórios político-ontológicos. Dessa maneira, quando aqui escrevo sobre o reconhecimento da dignidade humana das travestis e mulheres trans, é preciso que você, leitor, se localize enquanto agente – passivo ou ativo – desse contexto.
Acredito na potencialidade de se localizar enquanto agente, porque me é óbvio que quando falo coisas que, pra mim, são redundantes, para outros causa surpresa. Quantas vezes percebi reações de surpresa ao questionar “Quantas travestis estudaram, trabalharam, conviveram, se relacionaram com vocês?”. É visível como grande parte da população, assim como os próprios movimentos sociais, ignoraram e continuam a ignorar a existência de travestis.
Logo, se não reconhecem nossa existência, se ignoram nossas demandas, se não procuram estabelecer pontes conosco, como poderíamos fazer parte de suas agendas políticas enquanto pauta política? É por esse motivo que, mesmo estando em lugares onde, supostamente, teriam algum tipo de acesso ao que estamos produzindo, parto da premissa de que, na verdade, existe sim a necessidade de que minha fala os localize, os responsabilize.
Uso o termo responsabilidade porque, a partir das minhas leituras de feminismo negro, aprendi que não basta só ser contra o racismo. É preciso, para além disso, construir políticas, narrativas, posicionamentos antirracistas. Logo, pensando interseccionalmente, não nos é o bastante só estar contra a transfobia, mais também instrumentar maneiras com que travestis e mulheres trans consigam uma inserção plena em nossa sociedade. E isso, sem dúvida alguma, é uma responsabilidade de todos quando estamos esboçando um novo modelo de sociedade.
Disputar valores é disputar narrativas. E compreendo que as narrativas em torno das travestis e mulheres trans na história do Brasil foram as que nos construíram enquanto sub-gente, como seres não civilizados, como intrinsecamente sujas. Logo, quando entro no curso de Pedagogia, compartilho da metodologia pessoal de teorização da bell hooks. Seu livro “Ensinando a Transgredir” diz que seu processo de teorização, muitas vezes, partiu de um lugar de cura.
Dentro da Pedagogia, estou investigando as razões que levaram outras travestis e eu a sermos, diariamente, submetidas a processos de violência física, psicológica e subjetiva. A escola sempre aparece enquanto um dos primeiros lugares que expõem como nossa identidade se relaciona de maneira caótica para com o resto da população e suas instituições. Quando ouvi de meu antigo diretor que “Maria Clara não existe!”, foi perceptível como minhas especificidades não eram relevantes ao corpo docente da instituição.
Por esse motivo, quando estudo sobre escolarização, sobre educação básica, sobre como a educação tem um papel central na humanização do sujeito, consigo compreender plenamente a razão que fez com que eles desejassem que eu me retirasse daquele recinto, fazendo, assim, minhas demandas sumirem e não serem postas enquanto uma responsabilidade da escola.
Quando travestis adentram espaços, nós trazemos nossos olhares, nossas circunstâncias, nossas problemáticas. Nós agregamos questões contundentes ao processo de reformulação da sociedade, do viver em comunidade. Já que, como já dito, fomos excluídas dessa possibilidade. A dinâmica de teoria + prática que tento disseminar quando pontuo com tanto afinco sobre minha fala exigir prática, assim como a escuta do outro exige posicionamento, pretende fazer com que consigamos dar passos ao futuro.
Quando escrevi o texto Brasileiros possuem uma dívida histórica com as travestis para as Blogueiras Negras, pretendi expor como a omissão faz parte ativamente da condição de precariedade que nosso grupo é submetido estruturalmente. Não são todas as mãos que apertam o gatilho ou nos esfaqueiam, mas muitas são as bocas que se calam ao se depararem com essa realidade. E essa situação se dá dentro de um contexto que, nas palavras de Judith Butler, situa corpos específicos enquanto passíveis de luto e outros como não importantes o bastante para que essa comoção ocorra.
Dessa forma, quando apontamos a necessidade do termo transfeminicídio, a discussão não se encerra só no assassinato em si. Ela se estende até para a forma com que esse assassinato é reportado – se for reportado -, quando somos assassinadas 2, 3, 4 vezes. Ao nos depararmos com as matérias feitas, lemos coisas como “Travesti é abatido”, “O travesti”, “Ciclano mais conhecido como xxx”. Não temos o direito a dignidade reconhecido nem mesmo quando mortas.
Os resquícios da Operação Tarântula – operação feita pela Polícia Militar de São Paulo para busca e extermínio de travestis na década de 80 – continuam vivos em nossa sociedade brasileira. Como defendi no texto já citado que escrevi para as Blogueiras Negras, a transfobia fez/faz parte da construção de nossa identidade nacional.
O brasileiro foi educado, também, por meio da já ressaltada interpretação errônea dos preceitos morais, em que travestis, de alguma maneira, sujam a nossa sociedade. Logo, o pensamento de que nosso genocídio é algo que traz “ordem” ao viver em sociedade ainda existe e não é só uma “lembrança” da postura extremamente violenta que o brasileiro já possuiu para conosco, como foi mostrado no documentário “Temporada de Caça” de Rita Moreira.
Colocar o valor Dignidade Humana em disputa, tendo como experiência a vida de uma travesti negra e sendo reconhecido que travestis e a população negra são assassinados sistematicamente em nossa nação, carrega consigo a enorme responsabilidade de adentrar as relações de poder e fazer algo que jamais esperavam: o questionamento.
Por muito tempo, como já falei diversas vezes, tive medo de falar. Tendo me assumido aos 16 anos, o medo era compreensível. Afinal, naquela época, ao abrir o Google e digitar “travesti” apareciam só dois resultados: mortes e prostituição. O medo era inevitável, na verdade. Porém, ele não era o pior sentimento desse quadro, mas sim o silêncio. Me calei, também, porque acreditei que não haviam pessoas interessadas em ouvir o que eu, travesti, tinha a dizer.
Esse sentimento é bastante comum em nossa comunidade. Tendo sido expulsas cedo de casa, muitas de nós internalizaram que com ninguém podiam contar, que ninguém, jamais, iria se preocupar com suas integridades. Porém, para minha segurança, houve quem estava interessado em me ouvir. E, assim como me ensinou a já citada Audre Lorde, reuni forças para transformar o silêncio em linguagem e ação. Não permiti que o medo eme calasse, que acorrentasse minhas mãos. Coloquei minhas indignações para fora e cheguei a conclusão de que, para mudar a minha situação e de minhas irmãs, o que era necessário seria uma grande mobilização, um levante que pudesse [trans]formar a forma como a sociedade enxergava nossos corpos e vivências.
Logo, quando estamos articulando uma nova nação, necessariamente, estaremos, também, construindo lugares para travestis e mulheres trans. Uma vez que só existirá, de fato, uma sociedade onde a dignidade humana seja eixo central, quando travestis e mulheres trans tenham sua humanidade devidamente reconhecida.
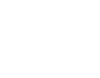
Verdade assino embaixo.