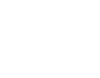A diversidade nas diferenças e as violações das desigualdades sociais
Por Tainá de Paula
O termo cunhado por Marc Augé no livro intitulado Não Lugares, de 1995, que define espaços transitórios – aeroportos, supermercados, etc. – cada vez mais se adequa à realidade do Rio de Janeiro. A disputa pelo território e a diminuição de direitos fundamentais fazem da cidade um palco de disputa ainda mais acirrado entre classes. E, se nos permitirmos flanar no tempo e resgatar o arquétipo modernista de cidade, onde o conjunto de condicionantes interligados – morar, circular, cultivar o espírito e trabalhar – está cada mais distantes do cenário atual. Nesse sentido, faz-se necessária a revisão do que significa o termo cidade.
Dos vales mesopotâmicos até hoje, passando pelas diversas culturas orientais e ocidentais, as cidades sempre foram palco de disputa de manutenção de privilégios e desigualdades. O modelo onde parte da cidade é guarnecida de investimentos públicos e privados e uma outra parte é reservada ao lugar dos pobres, é replicado ao longo da história das cidades, presente nas cidades feudais, no modelo das cidades desenvolvidas entre os muros feudais, nos primeiros burgos[1], nas cidades europeias da Revolução Industrial, nas cidades fordistas e pós-fordistas.
No Brasil, assim como em outras cidades coloniais escravistas, o modelo capitalista consolida o processo de pauperização de determinados territórios e, ainda no séc. XVII, este padrão se consolida como lógica de ocupação. Na virada do século XX, uma cidade como Rio de Janeiro já possuía cerca de 8% de seu território destinado ao lugar dos pobres. Em 2017, cerca de 25%[2] do território do Rio de Janeiro é ocupado por territórios desprovidos de infraestrutura urbana em alguma medida, seja numa morfologia de favela, loteamento precário ou irregular.
O crescimento das favelas pode ser explicado de diferentes formas, mas pode-se fazer uma correlação imediata com o mercado de trabalho e imobiliário. Com a renda instável, amplos segmentos da população têm dificuldades para repetir o padrão de crescimento baseado no loteamento periférico e na autoconstrução da casa. Tendo como exemplo ainda o Rio de Janeiro, com a forte concentração dos empregos na cidade, especialmente nas suas zonas centrais, a busca da casa própria na periferia implica pesados custos de deslocamento, em razão da distância e da conhecida precariedade do sistema de transportes público metropolitano.
Nesse sentido, os excluídos do mercado imobiliário somente têm acesso à moradia “fora da cidade” – isto é, fora da legalidade urbana e dos padrões mínimos de conforto -, e/ou em zonas fragilmente urbanizadas (caso de favelas, ocupações, casas de cômodo, etc.), tanto pela dificuldade de acesso às linhas de financiamento habitacional como da manutenção da propriedade (pagamento de taxas, e custo de infraestrutura).
Esta estrutura demarcada pelo capital delimita duas cidades: uma com acesso aos serviços públicos e provida de estrutura urbana, com condições plenas de habitabilidade, e outra, com altos índices de inadequação habitacional e urbana, impregnada de uma relação nociva do Estado e da sociedade com esses territórios, pautada na naturalização da pobreza, resultado dos anos de ausência de atuação do poder público.
Atrelada a essa relação Estado/ políticas públicas X território, temos o entendido aqui como a imagem dos lugares. Para Pierre Nora[3], a imagem de um lugar além de ser transmitida através da história, pode ser reinterpretada, influenciando tanto a memória individual quanto a coletiva. Ou seja: a imagem social naturalizada dos espaços de pobreza é transmitida para moradores e não moradores, e esse processo é fator importante na banalização das características existentes dos territórios e de certa forma cristaliza as preconcepções acerca dos lugares.
Os lugares “são para o que nascem” e essa máxima, quando da inação do papel do Estado em reverter o quadro de desigualdades, torna-se a grande causa da irreversibilidade do cenário atual.
Nesse sentido, é possível entender a banalização da violência (e do mal, numa perspectiva arendtiana) e a negação de direitos nos territórios de pobreza, avançando-se a passos largos para a total invisibilidade do que acontece nesses territórios. O Rio de Janeiro, que tem uma rica história de questionamento em relação à situação de seus assentamentos precários, abre mão desse acúmulo e naturaliza o genocídio de sua população favelada, e a pífia e equivocada atuação do poder público em diversos momentos.
Nesses territórios, é preciso vencer não só a precária condição de vida, mas literalmente é necessário sobreviver. Dados do Instituto de Segurança Pública apontam que entre janeiro de 2016 e março de 2017, ao menos 1.227 pessoas foram mortas pela polícia no Estado do Rio de Janeiro. A segurança sanitária e ambiental também são pontos a serem enfrentados por essa população. O Rio de Janeiro é campeão nacional de casos registrados de tuberculose (11 vezes maior que a média do país[4]) e pouco ou quase nada está sendo feito para eliminar esses problemas.
É cada vez mais urgente vencermos a invisibilização dessas questões (e desses territórios) e é premente uma repactuação social, que nos permita avançar numa agenda comum de sociedade, que não naturalize as diferenças. Onde e em que momento as discrepâncias entre “essas cidades” foi colocada? É preciso revisitar as origens históricas de nossas cidades escravagistas, que cresceram e se forjaram na lógica da exploração de seres com menos direitos e com menor importância.
A cidade, a civitas, essa aglomeração humana que hoje o urbanismo ajuda a organizar e categorizar, se não fizermos a repactuação necessária, ficará cada vez mais distante de um ideal de equilíbrio de forças e atividades, pois as tensões colocadas no espaço urbano anularão a principal potencialidade das cidades: a promoção do convívio e a relação entre habitantes e território.
Se banalizarmos a tal ponto a insegurança urbana, como garantir o direito à cidade? Como garantir que favelas e periferias estejam categorizadas como cidade de fato? Indiretamente, quando se permite os valões e as incursões militares no meio de crianças, promovemos o fenômeno parecido com o que acontece nos não-lugares. Se utilizarmos a reflexão de Montaner[5], sobre os aeroportos e outros locais de trânsito rápido classificados como não-lugares, perceberemos como a não permanência e a constante prova de inocência necessária nesses locais (em aeroportos, por exemplo, prova-se a todo instante que não se é ladrão, terrorista, vigarista, etc.) é uma realidade corriqueira nas favelas.
Concretamente, elevamos o não-lugar ao status de não-cidade, onde parte está refém da ingerência do poder público e a outra parte está inerte, vivendo uma falsa imagem de normalidade e de pujança urbana, feliz com a inserção de equipamentos da cidade-espetáculo: temos ao mesmo tempo aquários e prédios do Norman Foster, mas também temos creches e crianças sendo alvejadas em suas escolas.
Como urbanista, conclamo meus compaheir@s à reflexão e à construção de uma agenda que não priorize apenas a importância de projetos isolados, mas que seja um grande instrumento de luta na erradicação das desigualdades urbanas, com planos, projetos e propostas que caminhem nesse sentido.
Até quando permitiremos a não-cidade do Rio de Janeiro? Desigual, caótica, falida e inerte? Qual a agenda urbana que iremos encampar nos próximos anos?
Referências
[1] Os burgos surgiram na Baixa Idade Média, na época da decadência feudal e crescimento comercial e urbano.
[2] Percentual retirado do SABREN – Armazém de dados, 2016.
[3] NORA, P. Science et Conscience du Patrimoine: actes des Entretiens du Patrimoine. Paris: Fayard, Éditions du Patrimoine, 1997.
[4] Leia mais: https://oglobo.globo.com/rio/prefeitura-quer-abrir-janelas-em-700-casas-na-rocinha-21891980#ixzz4vbTWkYeI
[5] Para maior contribuição, ver “A Modernidade Superada”, de Josep Montaner.