
AGRO-NECROPOLÍTICA
Por Luana Fontel
No Brasil, a imagem das populações indígenas ainda é carregada de estereótipos ligados a maneira com que a história de seus povos se desenvolveu na sombra do colonialismo voraz e que imprimiu no imaginário um deslugar para suas identidades étnicas. Povos ligados a ideia de uma natureza purista, a nudez, a vida mais selvagem e pouco conhecimento do mundo tecnológico ainda é a imagem que desenha sua existência institucional e culturalmente localizando-as na periferia dos saberes hegemônicos.
Mesmo quinhentos anos depois da chegada do colonizador por essas terras, e dos pariwat terem desenvolvido outras maneiras de existir e operar o mundo, é cobrada do sujeito indígena um tipo de autenticidade pura, que supostamente resistiu a séculos de colonização, dor e necropolítica. Essa concepção vai desaguar em diversos setores em que estas existências se inscrevem como no acesso a serviços públicos, decisões sobre seus territórios, a maneira de produção de subsistência, saúde, segurança, espiritualidade e demais atravessamentos que são experienciados de maneiras diferentes por populações não-indígenas.
Os discursos que circulam no jornalismo, na literatura, na música e nas histórias infantis do jardim de infância, por exemplo, impulsionam e perpetuam essa maneira de olhar as populações indígenas. São discursos que atravessam o tempo-espaço não meramente dizendo sobre, mas agindo no mundo, impulsionando realidades muitas vezes vorazes de permanecer sendo índio no Brasil.
Esse exercício de subalternizar o sujeito indígena é um projeto que se inaugura no “descobrimento” (ou seria invasão?) do Brasil. Quando as políticas da morte começaram a ser implementadas sob pretexto da expansão e progresso econômico. Quinhentos anos depois, não estamos em situação muito diferente.
Ao abrir seu ensaio “Necropolítica” Achille Mbembe, historiador e filósofo camaronês, delimita que “a expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer”. Nesse jogo do poder de definir os corpos matáveis, as populações indígenas são um número grotesco: 3 a 4 milhões em 1500, pouco mais de 400 mil na atualidade.
A morte de um sujeito indígena não consiste, contudo, no desfacelamento de sua carne e cerceamento de sua vida biológica, existem muitas maneiras de morrer, maneiras refinadas de esmagamento cultural, cosmológico, marginalização do conhecimento e demais estruturas que incidem para o seu apagamento. Contudo uma delas é a porta de entrada para as outras e talvez seja a mais violenta: a luta pela terra. Demarcação territorial. Aplicação de métodos naturais de plantio. Autonomia alimentar. A maneira com que o indígena vê a relação com o chão em que estão seus ancestrais é uma ameaça ao projeto expansionista do agronegócio, do “Agro Pop”. Para o indígena o Agro não é Pop, o Agro é tóxico, é Agro-necropolítico.

Mesmo diante das incontáveis violências que tem o campo como palco para os horrores do ruralismo, a mídia segue vendendo uma imagem positiva do latifúndio para a população. A propaganda acima, televisionada pela Rede Globo, ressalta a preciosidade que é a grande indústria enquanto riqueza do Brasil, repetido incessantemente nos intervalos da empresa que tem como presidentes grandes donos de terra e gado, nada mais conveniente que a exaltação de um sistema de exploração mascarado pelo mito da modernização e do progresso.
Outro ponto recorrente é a incessante criminalização dos movimentos sociais da terra como MST, indígenas e quilombolas, cujas resistências aos ataques dos grandes produtores rurais são rotuladas como “terrorismo”, “invasão”, “desobediência” e claro “crime”. Mesmo esses movimentos de resistência sendo reconhecidos mundialmente em relatórios internacionais por suas ações de conservação ambiental, sustentabilidade, direitos humanos, agrobiodiversidade e participação social. Nada vale frente ao trator do agronegócio, segundo a ONG britânica Global Witness o Brasil é o lugar mais perigoso do mundo para se ser um ativista em favor do meio ambiente. O paradoxal é que a mesma mídia que exalta o latifúndio, noticia a morte daqueles que ousam desafiar seus paradigmas.

Muitos casos ficaram famosos ao evidenciar a maneira cruel com que os grandes donos de terra agem para proteger suas posses. Alguns exemplos são o massacre de 10 trabalhadores rurais sem-terra ocorrido no município de Pau D’Arco, a 50 km de Redenção, na região sudeste do Estado do Pará, em 2017 sob o pretexto de “acerto de contas”; o conflito agrário que deixou 9 camponeses mortos em região de elevado potencial madeireiro e minerário em Colniza, no Mato Grosso; ou ainda os 19 trabalhadores assassinados em Eldorado dos Carajás. Fora os camponeses anônimos que morrem todos os dias e não viram notícia.
Um exemplo que evidencia a relação entre a situação de vulnerabilidade das populações indígenas e a luta pela terra foi a chacina ocorrida no Estado do Maranhão com os índios Gamela. Em 2017 os indígenas retomaram uma área próxima à aldeia Cajueiro Piraí, localizada no interior do território tradicional reivindicado pelos Gamela, que é utilizada para a criação de gado e búfalos. A ação foi parte da Greve Geral e em sincronia com o 14º Acampamento Terra Livre (ATL), que ocorria em Brasília. 13 indígenas foram atingidos com armas de fogo, facão e pauladas, em resposta a tomada de parte da terra. Uma reação covarde e premeditada, que ilustra como o agronegócio pop responde aqueles que projeta como inimigos.

A relação do indígena com a terra não está prevista em manuais antropológicos pois não pode ser capturada por dispositivos brancos de linhagem colonialista. A relação do indígena com a terra transborda a ideia que os povos não indígenas detêm do conceito de natureza. Há toda uma cosmologia envolvida no lugar onde se enterram os ancestrais e em cujas águas se banham seus descendentes. Fator que torna a ideia de território para o indígena, um recurso que transcende as noções limitadas do projeto capitalista.
Dessa relação brota então as maneiras tradicionais de cultivo e uso da terra, que transcendem a ideia de lucro, mas que se dão através de vivências cotidianas e rituais das comunidades, que consideram o ciclo das águas, o ciclo do ano, a pluricultura e a vida animal e vegetal. Espaço onde são exercitadas a medicina tradicional, as cerimônias de cura e saudação a terra.
Objetivamente o manejo indígena tradicional pode impulsionar a produção orgânica livre de agrotóxicos, o uso da terra que ao alternar culturas de plantio não a envenena, deixando produtiva por todo o ano, a sustentabilidade, agricultura familiar e aliado a isso a sua preservação cultural e de vida, possibilitando a projeção de um futuro onde essas populações não apenas sobrevivam, mas vivam e tenham posse não apenas a seus territórios de direito, mas também posse de suas existências no mundo. Fatores que não têm sido contemplados pelo poder público, que em vez de proteger, incide para a seu extermínio físico e simbólico.
Há pouco mais de um ano uma comissão especial, em uma segunda-feira (dia em que os ministros geralmente não trabalham…) desengavetaram um projeto de 14 anos atrás e aprovaram com 20 dos 26 votos um relatório que mudou as regras gerais de regulação dos agrotóxicos no Brasil. Essa decisão tira os direitos da Anvisa e do Ibama de fiscalizar que venenos chegam à mesa do brasileiro, deixando essa decisão nas mãos da bancada ruralista, ou seja, dos grandes latifundiários.
Para um país como o Brasil, que consome cerca de 20% de todo agrotóxico do mundo, dos quais 30% são banidos na Europa e onde se paga 5 vezes mais por alimentos orgânicos, não é difícil perceber quem são os mais atingidos pela iniciativa, a população pobre e classe trabalhadora, que por um lado não tem acesso a tempo e terra para a agricultura familiar e de outro não possui recursos para o mercado dos produtos orgânicos, ficando à mercê dos mais de 2 mil venenos legalizados no país e que podem compor sua alimentação.
Considerando mais essa prerrogativa, não fica difícil listar as formas que o poder encontra de marginalizar, precarizar a vida e produzir vulnerabilidade. Pensar a questão do campo no Brasil é um exercício político, cultural, econômico e humano que atinge a todos de uma forma ou de outra e por isso merece ser revisto e problematizado.
Medidas provisórias, decretos, projetos de lei, ementas constitucionais, o impasse da Reforma Agrária, num país onde 175 milhões de hectares são improdutivos e milhares de trabalhadores lutam por um pedaço de terra, o que ressalta aos olhos é o conluio do governo com o massacre da vida no campo e com a expansão de políticas que cada vez mais fortalecem os ricos e dão de morrer aos pobres. A diminuição dos recursos da Funai e do Incra, o deslocamento do poder de demarcação territorial para as mãos da Bancada do Boi e a liberação de um agrotóxico por dia em 2019 e a desarticulação das investigações de trabalho escravo são o que se tem de políticas públicas voltadas para a questão do campo. Com a cumplicidade do judiciário a agricultura pop segue expandindo suas fronteiras através da força, da violência, do desmatamento e da morte.
Desde o descobrimento nossa riqueza natural se transforma em capital europeu ou estadunidense através da escravidão, genocídio, colonialismo e marginalização dos saberes e poderes dos povos tradicionais, nossos frutos, minério, gás, florestas e força de trabalho segue sendo usurpada sob o discurso dominante do progresso.
Mas onde há opressão, há resistência. Apesar dos massacres e incursões covardes, organizações campesinas, indígenas, quilombolas e demais ativistas seguem produzindo maneiras de resistir e existir de maneira digna e justa, seja plantando seu alimento, seja militando pela causa ambiental ou conscientizando aqueles que estão distantes desse cenário político, econômico e cultural.
Há uma esperança, não uma esperança inerte e sonhadora, mas uma esperança firme e operante, que segue plantando um amanhã mais justo para os sujeitos e sujeitas do campo e para aqueles que desejam um futuro livre das artimanhas da necropolítica.
Há braços de luta.
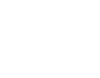
Uau! Em tempos tão difíceis e nos quais, somos constantemente bombardeados por notícias obscuras, é importante se deparar com textos como esse, pois nos ajuda a refletir sobre a nossa realidade, mas também permite acalentar as esperanças de que conseguiremos superar tais dificuldades, tendo como inspiração e ensinamentos, justamente toda essa bagagem, ao mesmo tempo árdua, porém incrível, que constitui a r-existência dos povos das águas, do campo e da floresta. Só tenho o que agradecer por compartilhá-lo conosco!