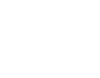Coexistir na diferença e feminismos
Por Tatiane dos Santos Duarte¹
A formação do Brasil como nação foi fundamentalmente marcada pela experiência colonial escravocrata. Logo, mesmo com o advento da República, as diferenças étnicas e raciais continuaram sendo justificativas para a exclusão e a violência e as relações entre homens e mulheres permaneceram reguladas por desigualdades explicadas pelas diferenças biológicas entre ambos.
As formulações teóricas e sociológicas sobre o Brasil se dispuseram a explicar como, diante dos males da “mistura” de uma sociedade não branca, de um povo-problema emergiria a nação desejada pelas elites, até mesmo as intelectuais, e seus pactos de branquitude². Durante tal processo, as diferenças de nosso povo foram classificadas, formatadas e tornadas desigualdades, ainda que pintadas em um retrato supostamente democrático. Essas desigualdades perpassam um século, sendo ainda perpetuadas por narrativas hegemônicas validadoras de uma história nacional única.
Desse modo, não é surpresa que grande parcela da população seja designada ainda como “os outros” (não brancos, não homens, não heteronormativos, não cristãos, etc.) definidos pelos “Eus” epistêmicos, dominantes em um sistema capitalista de exclusão total que determina os corpos tornados periféricos, geopoliticamente vulnerabilizados, não pertencentes, submetidos a uma vida precária, viventes nas bordas, sobreviventes das quebradas, destituídos de direitos. Diante do imperativo de uma ética nacional da violência, o país se faz sem coexistência, violando sistematicamente a história dessa gente esquecida nos livros, pessoas consideradas agentes históricos passivos e deslocadas da “humanidade”, mas que sempre reivindicaram pelas beiradas e nos centros possíveis suas (re)existências plurais como coletivos historicamente políticos e organizados contra sistemas de poder vigentes, antes mesmo dos estatutos modernos e republicanos.
Ante essa história nacional, orgulhosa de reverberar privilégios, apagar encruzilhadas e crucificar corpos, herdeiros e herdeiras da extirpação se apresentam politicamente como sujeitos demandantes do direito de existir na diferença e ter a titularidade dos lugares roubados de seus ancestrais.
Perceber esse processo histórico que neutralizou existências fissuradas, identidades de quebradas, experiências de beiradas, territórios de dobradas e fez o Brasil para poucos é fundamental para construir engajamentos em prol da coexistência nas/das diversidades e, sobretudo, pelo direito de elas viverem, ainda que diante das violências cotidianas, da possibilidade do estupro, do abuso, do tapa, de uma realidade em que mães-solo precisam gerenciar a insegurança alimentar, a pobreza e a miséria e em que mães pretas precisam ainda chorar solitárias diante do corpo de seus filhos executados pelo Estado.
É nesse país de ações violadoras presentes e muitas vezes banalizadas, alimentadas por um passado colonial e escravocrata, que se espraia um racismo desavergonhado, em que as violações de direitos são ainda mais perversas para mulheres, pretas, mães e periféricas. Assim, é fundamental compreender, ainda que panoramicamente, que o movimento feminista ocidental que insurge como crítica ao patriarcado, cuja dominação masculina alocou mulheres como sujeitas desiguais na sociedade, também desconsiderou muitas urgências.
Há, portanto, a urgência de engajamentos políticos de mulheres de forma comunitária, pautados pela ética da autonomia e pela primazia da coexistência de nossas diversidades, realizadas nas muitas lutas de outrora e que devem ser continuadas hoje de forma radicalmente interseccional, feminista e antirracista
Organizadas contra a ordem patriarcal, mulheres brancas, cujos capitais familiares lhes permitiram que se envolvessem em lutas políticas, puderam ocupar o espaço público demandando direitos iguais e cidadania. Ao longo do século XX, conquistamos o direito ao voto e os direitos de estudar, de trabalhar, o direito ao divórcio, à liberdade sexual e a ir e vir, a titularidade cidadã, a existência para além da maternidade e não referenciada ao homem, entre tantas outras conquistas.
Mas essas lutas foram feitas por meio de uma identidade ilusória criada pela marcação universal da opressão às mulheres, que desconsiderava os aspectos étnicos, regionais e raciais, as diversidades e especificidades das mulheres. Indígenas, pretas, quilombolas, ribeirinhas e faveladas acessaram tais direitos? Lélia Gonzalez foi uma das primeiras intelectuais e ativistas negras a apontar a omissão da questão racial nos debates feministas acerca da igualdade sem, portanto, ser excludente, visto que, como lembra Maria Lugones, não é possível falar de uma universalização da subordinação da mulher ou de uma identidade entre/sobre as mulheres quando muitas de nós descendem de povos escravizados ou erradicados por etnocídios.
Apesar da contribuição inconteste dos feminismos ocidentais para a garantia de direitos humanos das mulheres e para a oposição a uma divisão sexual que beneficiou apenas aos homens, sua marca eurocentrada aprofunda o fosso entre nós, pois estabelece dicotomias, logo, atomiza, não prolifera, não se comunica e nem dialoga com as muitas precisões de nós, habitantes das margens do mundo³, cujos corpos são ainda neutralizados pelas prerrogativas universais de direitos humanos.
Assim, um feminismo que fala sobre uma identidade atômica de mulher sempre foi insuficiente para entender a vida e a luta das que fazem a sociedade e criam os filhos dessa nação indígena, negra, latino-americana, popular, caiçara, quilombola, urbana e rural, favelada, ribeirinha, comunitária e fissurada, com todas as complexidades das encruzilhadas que cunham nossa diversidade e singularidade e aguçam ou amenizam as violações que sofremos.
Por isso, precisamos fazer desaparecer essa marca para coexistir na diferença, não como conceito, mas como ação e tessitura da ética feminista de fato antirracista e inclusiva, porque não coexistimos sozinhas, não há coexistência quando a mulher é pensada segundo um paradigma universal. Portanto, não pode haver uma proposta hegemônica feminista, embora haja muitas correntes e linhagens e uma ética radical que afirma a importância e defende a vida de todas.
O conceito de interseccionalidade tem sido fundamental para construirmos perspectivas contra-hegemônicas comprometidas com o bem-viver, tal como defendido pela boliviana Julieta Paredes. Perspectivas que afirmam territorialidades, identidades e formas de existência que disputam com as vozes referenciais dos centros produtores de poderes, verdades e de políticas assentados na história e no paradigma de direitos. Portanto, clamam por engajamentos políticos e por direitos que não sejam excludentes. A interseccionalidade, necessária como categoria política, deve trazer uma abordagem teórica relacional, com foco na articulação entre classe, raça, etnia, sexualidade, regionalidade, etc., bem como em suas implicações simbólicas e correlações concretas na divisão sexual do trabalho, na organização familiar e doméstica, no mundo do trabalho e no espaço público, no processo de subjetivação identitária e das relações sexuais e afetivas, e também nas formas de resistência às opressões coloniais e às estruturas de poder desiguais.
Os olhares críticos das teorias decoloniais latino-americanas e dos feminismos negros e indígenas são fundamentais para a construção da ética-política feminista que valida a autonomia para criticar e pautar novas relações de gênero, culturais, sociais, econômicas, ambientais e raciais, segundo seus lugares nas bordas do mundo. Dessa forma, metodologicamente dialoga e abarca dissensos nas ações políticas em prol dos direitos humanos das mulheres, privilegia a multiplicidade de seres, pensamentos e desejos e também suas formas particulares de fazer política feminista em relação aos seus contextos históricos, geográficos e culturais específicos.
Seriam, desse modo, feminismos mais comunitários e pluralizados que emergiriam dos/nos territórios, em diálogo com as urgências da vida das mulheres ali territorializadas, segundo os corres das mães, os deslocamentos na imobilidade urbana, as dores provenientes de relações afetivas violentas, as exclusões sociais e as vulnerabilidades das geografias habitadas, os esforços e desalentos, os cansaços decorrentes do trabalho do cuidado sem remuneração, a fadiga da sobrecarga mental, as insatisfações engolidas e não expressadas, a insegurança e medo policial, a precarização laboral e a obrigação “natural” de servir a outrem.
Feminismos de metodologias coletivas capazes de abarcar a expressão de nossas diversidades e particularidades que abrigam saberes, gramáticas, sentidos, desejos, demandas variadas e que possibilitam que as mulheres mesmas vocalizem emancipações, liberdades, direitos semelhantes, mas corporificados pelas diferenças. Potencializadas nos encontros e nas lutas políticas territoriais que nos conectam local e globalmente, afirmamos encruzilhadas, cicatrizes e dores, para marcar nossas diversidades e os direitos e a cidadania que ainda ousam nos usurpar. Para isso, cotidianamente, porque o pessoal é político, é preciso construir debates e análises, propor ações e respostas radicalmente feministas, antirracistas e afirmadoras de direitos, mas, sobretudo, formas de dialogar com as discordâncias e até com aquelas que se afirmam indivíduas. Há que se pensar como produzir entre mulheres tão distintas o sentimento de pertença ancestral, de genealogia, linha, árvore, descendência, comunidade. Como, se não relacionadas, de forma cada vez mais ampla e horizontal, em ações coletivas em prol da garantia de direitos e do reconhecimento cultural, social e político de nossa diversidade? De que forma, se não cosendo no fazer da vida coexistências interseccionais e transversais que acolhem classes sociais, lugares e regiões, formações, histórias, sexualidades, crenças, identidades?
Talvez faça mais sentido, diante da vida precária de mulheres e crianças, em todas as bordas desse país, a escuta sincera de seus clamores por direitos correlacionados não apenas com o paradigma dos direitos humanos ou com uma ética feminista, mas com valores morais, culturas tradicionalistas e crenças fundamentalistas que, muitas vezes, acalentam os horrores do cotidiano.
Há, portanto, a urgência de engajamentos políticos de mulheres de forma comunitária, pautados pela ética da autonomia e pela primazia da coexistência de nossas diversidades, realizadas nas muitas lutas de outrora e que devem ser continuadas hoje de forma radicalmente interseccional, feminista e antirracista. Sobretudo, de modo a aprender com aquelas que estão ainda habitando as bordas do mundo, mas produzindo feitos locais igualmente revolucionários.
Notas
¹ Tatiane dos Santos Duarte é licenciada em História (UFRRJ), mestre e doutora em Antropologia Social pela Universidade de Brasília. Pesquisadora e Docente Colaboradora Plena do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher/Nepem do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares/CEAM da UnB. Tem se dedicado a analisar as relações entre grupos cristãos, política, espaço público, laicidade, liberdade religiosa e democracia. Atualmente trabalha prestando serviços de pareceres, relatórios e normas técnicas para entidades da sociedade civil em temas como atuação de setores religiosos no espaço público e na política, valores morais e democracia, direitos humanos, laicidade, conservadorismos religiosos e os direitos das mulheres e também em pesquisas institucionais de metodologias qualitativas aplicadas a diagnósticos de políticas públicas.
² Segundo Cida Bento (2002), para entender as desigualdades raciais no Brasil, sobretudo em espaços de poder, é preciso considerar como a branquitude estabeleceu um sistema que compactua com as opressões e que omite as violações a partir de relações compromissadas com a manutenção de seus privilégios e vantagens econômicas e/ou sociais advindos de sua fenotipia e ascendência branca. Dessa forma, para a autora, a “branquitude é conservação, preservação do próprio grupo branco, no lugar onde está, ou seja, no lugar de privilégio” (p. 146).
³ Essa é uma perspectiva da educadora, intelectual e ativista negra Rosane Borges. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=_m5zrMY5o2g. Acesso em: 12 set. 2022.
Referências:
BENTO, Maria Aparecida da Silva. Pactos narcísicos no racismo: Branquitude e poder nas organizações empresariais e no poder público. Tese (Doutorado em Psicologia), Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade, São Paulo, 2002.
BORGES, Claudia Andrea M. Interseccionalidade. In: FLEURY-TEIXEIRA; MENEGHEL, Stela. Dicionário feminino da Infâmia. Rio de Janeiro: Editora da FIOCRUZ, 2015. p. 184-187.
PAREDES, Julieta. Despatriarcalización: Una respuesta categórica del feminismo comunitario (descolonizando la vida). Revista de Estudios Bolivianos, v. 21, p. 100-115, 2015.
GONZALEZ, Lélia. Por um feminismo afro-latino-americano. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Pensamento feminista hoje: perspectivas decoloniais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020. p. 36-49.
LUGONES, Maria. Rumo a um feminismo descolonial. Estudos Feministas, Florianópolis, 22(3): 320, setembro-dezembro/2014, p. 935-952.
MATOS, Marlise. Feminismo. In: FLEURY-TEIXEIRA; MENEGHEL, Stela. Dicionário feminino da Infâmia. Rio de Janeiro: Editora da FIOCRUZ, 2015. p. 150-152.