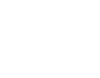Em direção ao deserto: ou sobre (re)imaginar novas formas de vida
Muito comum e apressadamente, a maioria das pessoas associam religião a um sistema de crenças rigidamente organizadas sobre uma realidade transcendente, sempre gerenciadas ou mediadas por instituições religiosas. Muitas pessoas compreendem religião da perspectiva sistemática e institucional. Fala-se religião, pensam-se igrejas, livros sagrados, sacerdotes, templos e demais edificações, objetificações e institucionalizações da espiritualidade. E se imagina esse sistema de crenças de forma separada das outras dimensões da realidade social.
Embora essa seja uma dimensão imprescindível para se pensar o fenômeno religioso, atualmente, ela não é suficiente nem a única possível. Religião não é – e não deveria ser – compreendida apenas da perspectiva institucional. O religioso não se define, nem se compacta ou se concentra unicamente pelos objetos sociais das religiões. Dentro do universo de maneiras e possibilidades de se apreender o fenômeno religioso, vale destacar duas: uma delas é olhar para as institucionalidades religiosas e perguntar sobre os modos de operação política, acerca das funcionalidades sociais daquele determinado sistema de crenças. Outro é, ir ao cotidiano das experiências humanas e tentar captar a religião da perspectiva de um fenômeno humano extasiante, excitante, afetivo e ético que dá sentido às experiências subjetivas das pessoas e das comunidades religiosas.
Podemos analisar religião do ponto de vista da formalidade e da objetividade do sistema religioso, ou tentar captá-la do ponto de vista do fenômeno subjetivo, no interior do cotidiano, como uma experiência de sentido que inspira e co-move a vida das pessoas e suas formas de viver no mundo, habitar e dar sentido à vida. Como disse Anete Roese, “No século XXI, será nos espaços para além das religiões formais que poderemos averiguar o que é religião, sobretudo quando se trata de pesquisar o vínculo das mulheres com a religião”.
Por exemplo, no espectro mais institucional, vimos uma densa expressão evangélica conservadora no Brasil. Não é difícil perceber cotidianamente nas mídias sociais e nos maiores jornais e TVs do país uma institucionalidade eclesiástica hegemônica que é mais fundamentalista, mais intolerante, racista, sexista, misógina e uma série de outras violências. Na prática, o discurso moral ainda agrega e transita com maior capacidade de adesão. O conservadorismo evangélico no Brasil está indefectivelmente articulado com a biopolítica. Pastores, lideranças e institucionalidades eclesiais não se abstém em dizer quem vive ou morre no interior da sociabilidade brasileira, sobretudo nos territórios marginais e periféricos. As linguagens e lógicas religiosas operam como áureas afim de justificar os sacrifícios em nome de deus. As mais sofisticadas violências no interior das cidades brasileiras e na boca de importantes lideranças atendem a um único pedido: “estamos fazendo a vontade de deus”. Mata-se em nome de deus.
Isso se dá porque na leitura literalista da Bíblia, alegando que o que está sendo dito é “o que está escrito”, marginaliza, desqualifica e condena, segundo os seus interesses, os esforços daqueles e daquelas que se dedicam a entender o que aquilo que “está escrito” coerentemente (e de forma honesta) “quer dizer”. No cenário pejorativo e degenerado que reproduzem, a literalidade do texto e o medo que provocam, ao se colocarem como defensores da “genuína” Palavra de Deus, lhes cai bem.
Uma década e meia depois de um governo de esquerda, ou, no mínimo, “progressista”, fortaleceu a emergência e a visibilidade (ainda que não a resolução ou a efetivação) das pautas feministas (com Ivone Gebara, Nancy Cardoso, Odja Barros, Valéria Vilhena); do direito LGBT (com Marcella Althaus-Reid, André Musskopf); do relaxamento das rígidas leis que criminalizam o aborto (com as Católicas pelo Direito de Decidir); do movimento negro apontando o racismo em várias esferas (com Ronilso Pacheco, André e Liz Guimarães), reivindicando espaço, a aplicação das cotas e uma paridade justa de raça; de comunidades que acolhe radicalmente e ama absurdamente (com Daniel Santos, José Marcos, Jairo Souza, Kátia Teixeira e Jairo dos Santos, Daniel Checchio). Viu nascer uma Caminhada Nacional Contra a Intolerância Religiosa, que colocou na berlinda a hegemonia judaico-cristã na sociedade brasileira, confrontando inclusive a visão pejorativa das religiões de matriz africana, tidas por algumas igrejas como entidades do mal ou “demoníacas”.
É certo que pensar as novas configurações de participação da religião nos espaços públicos tornou-se tarefa crítica fundamental para se pensar e construir a sociedade brasileira que queremos. Esta é uma atividade que tem sido enfrentada por pesquisadores, políticos e muitos religiosos. Recentes discussões põem em cheque o princípio secularista de que a exclusão da religião da esfera pública constitui condição necessária para a democracia. Me parece que já ficou claro que não é possível pensar sociabilidade na América Latina, em especial no Brasil, sem uma reflexão séria (não preconceituosa que cerca sobretudo as tradições Pentecostais) e profundamente conectada com as formas de vida no interior das periferias. Qual o lugar e o papel da religião e dos religiosos/religiosas nas negociações públicas e políticas no Brasil atual? Considerando a cidade (e por que não dizer o campo?) como espaço plural e complexo, como pensar formas de participação e presença da religião no espaço público que não sejam totalitaristas e colonizadoras? A quem interessa os estigmas e preconceitos que pesam sobre as diversas religiosidades?
Na tentativa de (re)imaginar o futuro, precisaremos trazer à memória a experiência do povo hebreu no cativeiro egípcio. Ao serem covardemente violados em suas dignidades, a multidão vai ao deserto. O deserto para o povo hebreu abriu uma fenda no tempo a fim de que novas formas de vida fossem possíveis. Mais que isso, entregar-se ao incerto e não sabido a viver em condições violentas. Me parece que a atual conjuntura de violência generalizada exige de nós um êxodo radical. Fugir, abandonar, ir. Ejetar das objetividades e concretudes que pretendem nos escravizar e abandonar-nos à morte. Ir ao deserto, por mais que o deserto seja árido. A boa notícia é que, muito embora o povo tenha andado quarenta anos em círculo, o deserto nunca teve e nunca terá a última palavra. Empreendemos, pois, fuga agora.