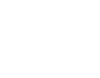Escuta Ativa de mulheres, mães e educadoras
Por Tatiane dos Santos Duarte¹
Ouvir. Estamos ouvindo nosso próprio choro, nossas canções de muitos lamentos e nossos tristes suspiros, sobretudo quando não querem ouvir-nos. E por que não nos ouvem? Porque atrapalhamos seu descanso secular em berço esplêndido, seus privilégios, seus poderes naturalizados. Querem-nos no lugar de sempre, obedientes, submissas e silenciosas. (GEBARA, 2022, p. 33).
Não é nenhuma novidade afirmar que as mulheres, em diferentes lugares e tempos da história Ocidental, foram sistematicamente silenciadas das mais diferentes formas. Tiveram suas biografias, ancestralidades e feitos tornados ausentes históricos, foram qualificadas como apêndices dos grandes personagens masculinos (ou vistas somente como esposas desses) e estigmatizadas como frágeis e instáveis, visto que seu sexo biológico tornava-as “naturalmente” inferiores.
Somos² descendentes dessas gerações de mulheres que nunca foram ouvidas plenamente, pois suas falas deveriam ser autorizadas e sempre orientadas pedagogicamente para a retidão, o recato, a contenção – qualidades e qualificativos que as diferenciavam do gênero masculino, os quais seriam, por sua vez, titulares da política e do espaço público. Mulheres essas – nossas mães, avós, tias – que acessaram o ensino escolar de forma precária, restritiva, ou apenas através de um currículo voltado para a esfera do cuidado e do casamento, formalizando o lugar da mulher na sociedade a partir de uma função reprodutiva obrigatória como mãe e como guardiã da família.
Ao longo do último século conquistamos acesso à educação, à formação profissional e ao mundo do trabalho, mas muito ainda é necessário ser transformado nesses espaços que excluem muitas de nós, sobretudo as mais vulnerabilizadas e periféricas. E, especialmente, no que tange à divisão das tarefas domésticas e do cuidado das crianças. Saímos para trabalhar e os homens, em ampla maioria, continuam não compartilhando tarefas e se responsabilizando igualmente como cuidadores. Travamos, assim, duplas e triplas jornadas, nos dividindo entre trabalho remunerado e o trabalho do cuidado, não remunerado. Estamos sobrecarregadas, exaustas e adoecidas.
Todavia, se podemos falar sobre igualdade e exigi-la é porque muitas de nossas ascendentes se rebelaram contra a herança que receberam de suas mães e avós, as quais viveram vidas precárias muito mais brutais porque falar lhes era impedido. Se “não acolhemos mais o silêncio da obediência em nós!” (GEBARA, 2022, p. 29) é porque herdamos o legado de movimentos feministas de mulheres para mulheres que refutaram a norma, propuseram novos horizontes e nos garantiram uma série de direitos ao longo do último século.
Sem dúvida temos hoje novos vocábulos para afirmar nossas existências como mulheres, mães, cidadãs e trabalhadoras das mais diferentes maneiras. Mas ainda somos colocadas como objetos das teorias; destino das políticas; sujeitadas, não sujeitas; cidadãs destituídas de autonomia sobre seus corpos, vidas, projetos e desejos; e naturalmente possuidoras de dons da administração dos espaços privados, da criação e da educação das crianças. Estamos ainda marcadas pela divisão do mundo em público e privado, que destinou nossas ancestrais, e ainda nós, à domesticidade e à tarefa do cuidado, aprisionando nossas subjetividades nas subalternidades, violências e violações e atestando nossos corpos apenas para reprodução e para a produção lucrativa do sistema patriarcal capitalista (FEDERICI, 2019).
É por isso que é fundamental ouvir e nos ouvir. Mas o que escutamos em meio a tanto barulho externo? E a tantas vocalizações internas que não são proferidas? Quem escuta as mulheres sem tipificá-las? E mulheres mães? Quem as escuta sem dar palpites em meio aos ruídos de suas maternagens³? Como somos escutadas? Ainda como “boas mães, boas filhas, boas esposas”?
E o que esperam ouvir de nós? O bom grado, porque somos as únicas que sabemos naturalmente cuidar das crianças e da casa e aguentar toda a carga e sobrecarga de sua administração, inclusive e sobremaneira nos tempos de precisão, insegurança alimentar e violência. Devemos falar de nossas formas de maternar apenas como amor sublime, mas nunca como lugar produtor de adoecimentos e estruturado por dispositivos de gênero que afirmam e legitimam nossas subalternidades políticas e sociais?
Calam-nos sistematicamente quando falamos que somos trabalhadoras mais precarizadas, confinadas na exaustão de sermos cuidadoras únicas e exclusivas. Quando afirmamos nossa sobrevivência materna cotidiana, automaticamente aguçam nossa culpa e relativizam nossas dores: “Aguenta firme, guerreira!”, “Silêncio!”. Afinal ser mãe é padecer no paraíso… O que nós não apenas queremos, mas exigimos? Queremos falar e ser ouvidas,
“não queremos mais ser rebaixadas e instrumentalizadas“. Não queremos mais ser julgadas, violadas, desprezadas porque declararam nossa inferioridade ontológica. Não queremos ser objeto do amor de piedade e condescendência fundado na afirmação da nossa beleza e fragilidade. Hoje buscamos também gerenciar o mundo com justiça e inteligência renovadas. Não queremos mais silenciar nossas dores e nossa criatividade, mas calar o sadismo patriarcal que nos acomete com tanta frequência. Ele, como sutil armadilha, nos penetra e nos leva a fazer da dor silenciada o troféu da glória patriarcal feminina. Hoje, estamos dizendo juntas: basta! Não queremos mais ser sacos de pancada do mundo, vítimas dos golpes e da embriaguez dos companheiros. Não queremos mais ouvir seus gritos e estúpidas blasfêmias contra nós, calúnias vazias e insultos constantes. Não queremos mais que a morte seja a nossa solução, pois, nos uniram ao violador ‘até que a morte nos separe’. Não queremos mais a eternidade nessa história. (GEBARA, 2022, p. 33-34).
Para isso, a escuta não pode ser apenas uma ferramenta de trabalho sem contexto e significado, que desconsidera a conjuntura, a biografia e as relações em uma sociedade estruturalmente desigual. Deve, portanto, estar metodologicamente compromissada com o acolhimento do que se escuta, com a humanização de quem fala e com a interseccionalidade corporificada nas mulheres, mães e trabalhadoras, ciente de que são sujeitas de sua história e da história, habilitadas para se expressarem de modo autônomo e com autodeterminação sobre si, seus desejos, receios, em suma, suas vidas.
A escuta deve estar metodologicamente compromissada com o acolhimento do que se escuta, a humanização de quem fala e a interseccionalidade corporificada nas mulheres, mães e trabalhadoras, como sujeitas de sua história e da história
Além disso, a escuta deve estar epistemológica e politicamente interessada em ser formadora de afinidade e filiação política feminista, capaz de silenciar o silenciamento patriarcal ao qual nós, mulheres, mães, trabalhadoras, sobretudo aquelas em funções laborais que envolvem o espaço doméstico e o cuidado, fomos submetidas historicamente e continuamos reproduzindo. É, portanto, ato de reparação histórica às nossas avós, mães e mulheres que estão nos anais da história como adendos ou como corpos reprodutivos, escravizados, violados ou envoltos na naturalização do mito do amor materno.
Para ouvir através da escuta ativa precisamos desnaturalizar a função materna que nos foi destinada e tornar a maternagem ato político e parte, como outros campos, da vida das mulheres. Nosso grito deve ser para romper com a ideia de que ser mãe é estar no espaço privado como única responsável por sua gerência e pelo cuidado dos filhos e filhas, excluída das atividades e debates do espaço público. Logo, é para afirmar o lugar da maternidade como conjugada a outras esferas da vida, para ouvir as invisibilidades das mulheres e formar novos significados e feitos políticos, cotidianos e públicos, irrompendo silêncios e proferindo sem culpa nem vergonha o que desejamos e sentimos com todas as complexidades que abarcam o ato revolucionário que pode ser também maternar.
Para isso, nossos atos de fala devem ser ouvidos e ainda mais proferidos, apresentando demandas e apontando quais políticas públicas relacionadas à maternidade devem ser feitas para as mulheres e crianças. Trata-se, ainda, de falar sobre uma nova construção de gênero para a sociedade, a qual refute a feminização do cuidado, a lógica adultocentrada e as idealizações que aprisionam nossas maternidades em não existências e em experiências frustrantes e adoecidas.
É preciso silenciar o trabalho reprodutivo do cuidado não remunerado como natural, ou como um ato de amor, e afirmar que maternidade não é afeto, cuidar da comida e trocar fraldas, mas uma posição subalternizada numa sociedade patriarcal que abona os homens do dever da paternidade. Por conta disso, não mais nos calaremos.
Sigo, assim, a ideia de reforçar o papel político da maternidade como ação pública e coletiva, pois somos nós, mães, as mais alijadas do mercado de trabalho e do acesso à renda digna, impedidas de nos manifestar como seres sexuais, de ter acesso ao ócio e a espaços de convivência e lazer. Somos nós que certificamos o nascimento de mais de seis milhões de crianças e cuidamos delas, sozinhas, impelidas a nos resignar e a sofrer violações e ausências.
Devemos criar espaços de escuta e diálogo comunitários que rompam tantos não ditos para fazer encontrar nossas formas de maternagem, sejam elas vividas de forma individual, sejam elas mais comunitárias, pois, em todas, ainda há marcas de exclusão. Urge construirmos mais experiências coletivas que fomentem relações de cuidado justas e iguais e que não coloquem as mulheres num espaço e num existir em que a solidão é parte do ser mãe e qualificativo da maternidade.
Precisamos, desse modo, ouvir as mulheres, acolhendo todas as camadas de suas subjetividades maternas, femininas, políticas, religiosas, biográficas, sociais. O que envolve também ouvir as idealizações de gênero que naturalizaram os lugares aos quais ainda acreditamos ser destinadas e pelos quais também nos entendemos e nos identificamos politicamente, ao mesmo tempo que refutamos as falas que dizem: “quem pariu que carregue, cuide, eduque”. Precisamos, sem dúvida, reprogramar os dispositivos maternos (ZANELLO, 2018) que introjetaram a maternidade como verdade de nossa natureza, motivo de nossa existência, destino da nossa capacidade reprodutiva, desejo único e objeto de realização cujo dom transforma exaustão e exclusão em amor sagrado. É o que todas nós aprendemos, desde muito cedo.
Assim, para ouvir sem julgamentos, precisamos da ética feminista de acolhimento das experiências e alocada na perspectiva de autonomia dos sujeitos, para que, então, segundo nossa diversidade, mas partindo de nossa afinidade materna, possamos construir espaços de escuta e debates sobre as normas exigentes da perfeição, dos grilhões postos no maternar, sobre a violência da obrigação de cuidar, para, então, pautar e demandar as urgências que nos atravessam em nossas muitas camadas.
Sair da tirania do modelo patriarcal marcado pela ideia de que “ser mulher é ser mãe” é promover cotidianamente a escuta ativa de nós mesmas e jamais naturalizar o preço que pagamos sozinhas para conciliar mundos, demandas e exigências. É preciso hoje propor uma reformulação da norma social e simbólica de gênero em favor de uma ética na qual o público “não seja exercido sobre a indiferença e o massacre do privado” (BOURNAN, p. 166). E a resposta não é tornar a perspectiva de democratização do cuidado apenas como “de mulher” e posta em um único espaço político, mas como estruturante de um novo modelo de sociedade.
Por isso, essa proposta demanda ação política e coletiva urgente, e exige a instauração de novos paradigmas sociais emancipatórios e radicalmente feministas e antirracistas, capazes de solucionar a questão das desigualdades, injustiças e violações de direitos que ocorrem em nome de nossas diferenças, sejam elas de gênero, raciais ou sociais. E essa mudança deve ser feita por nós, mulheres, cis ou trans, das diferentes regiões do país, raças e etnias, classes e escolaridades, aproximando nossas afinidades e nos reconhecendo como sujeitas de direitos.
Essa luta passa, a meu ver, primeiramente pelo processo de escuta de nós mesmas a partir da validação de nossa autonomia para conduzir nossas vidas, acolher nossas dores e refazer condutas e rotas. Assim como sair de situações, transformar ideias e produzir novas formas de existir e estar no mundo que sejam pautadas pela refutação total dos modelos e idealizações de gênero que reproduzem estigmas os quais violentam nossas subjetividades, oprimem nossas existências, neutralizam nossas potencialidades e nos afastam da promoção do viver bem com justiça, igualdade e pleno acesso aos direitos humanos.
Notas
¹ Tatiane dos Santos Duarte é licenciada em História (UFRRJ), mestre e doutora em Antropologia Social pela Universidade de Brasília. Pesquisadora e Docente Colaboradora Plena do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher/Nepem do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares/CEAM da UnB. Mãe do Dante e ativista feminista. Tem se dedicado a analisar as relações entre grupos cristãos, política, espaço público, laicidade, liberdade religiosa e democracia. Atualmente trabalha prestando serviços de pareceres, relatórios e normas técnicas para entidades da sociedade civil em temas como atuação de setores religiosos no espaço público e na política, valores morais e democracia, direitos humanos, laicidade, conservadorismos religiosos e os direitos das mulheres e também em pesquisas institucionais de metodologias qualitativas aplicadas a diagnósticos de políticas públicas.
² Escrevo no plural feminino porque sou uma mulher cis, mãe, trabalhadora, logo, não sou observadora desse universo, embora pudesse ser, sou parte corporificada por essas categorias e a partir delas me apresento e me coloco politicamente, pois também somos identificadas no/pelo mundo.
³ Entendo a maternagem como conceito explicativo dos atos de acolhimento e de cuidado, de construção de vínculos e afetos entre a criança em questão e outra pessoa, não necessariamente quem a gestou e pariu. Maternar, portanto, seria o verbo de ação desse substantivo.
Referências
BOURNAN, Marisa Estela Sanabria T. Humanizar. In: FLEURY-TEIXEIRA; MENEGHEL, Stela. Dicionário feminino da Infâmia. Rio de Janeiro: Editora da FIOCRUZ, 2015. p. 165-166.
BRENES, Anayansi C. Maternidade. In: FLEURY-TEIXEIRA; MENEGHEL, Stela. Dicionário feminino da Infâmia. Rio de Janeiro: Editora da FIOCRUZ, 2015. p. 215-216.
DA SILVA, Vera Alice Cardoso. Autonomia. In: FLEURY-TEIXEIRA; MENEGHEL, Stela. Dicionário feminino da Infâmia. Rio de Janeiro: Editora da FIOCRUZ, 2015. p. 51-53.
DE OLIVEIRA, Simone Francisca. Escuta. In: FLEURY-TEIXEIRA; MENEGHEL, Stela. Dicionário feminino da Infâmia. Rio de Janeiro: Editora da FIOCRUZ, 2015. p. 124-165.
DINIZ Débora; GEBARA, Ivone. Ouvir. In: DINIZ, Débora; GEBARA, Ivone. Esperança Feminista. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2022. p. 17-36.
FEDERICI, Silvia. “Teorizando e politizando o trabalho doméstico” In: FEDERICI, Silvia. O ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. São Paulo: Editora Elefante e COLETIVO SYCORAX, 2019. p. 37-130.
FILHO, Renato M. Cuidado. In: FLEURY-TEIXEIRA; MENEGHEL, Stela. Dicionário feminino da Infâmia. Rio de Janeiro: Editora da FIOCRUZ, 2015. p. 84-85.
ZANELLO, Valeska. Dispositivo materno e processos de subjetivação: desafios para a psicologia. In: ZANELLO, Valeska; PORTO, Madge (Org.). Aborto e (não) desejo de maternidade(s): questões para a psicologia. Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2016. p. 103-122.