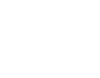Femigenocídio em nome da Guerra às Drogas e o projeto político feminista antiproibicionista
Luana Malheiro
Os dados, no que se refere a situação da violência de gênero no Brasil, são assustadores. Segundo a Fundação Perseu Abramo (2010) são cinco espancamentos a cada dois minutos no Brasil e um estupro a cada onze minutos. Segundo o 9º Anuário da Segurança Pública (2015), estima-se que a cada ano, no mínimo 527 mil pessoas são estupradas no Brasil. Desses casos, apenas 10% chegam ao conhecimento da polícia (Cerqueira e Coelho, 2014).
Com relação ao feminicídio, contamos um a cada 90 minutos, segundo dados do Ipea (2013). De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano de 2017 calcula-se 1.100 casos de feminicídio. De acordo com o Atlas da Violência de 2019, houve um crescimento dos homicídios femininos no Brasil em 2017, com cerca de 13 assassinatos por dia. Ao todo, 4.936 mulheres foram mortas, o maior número registrado desde 2007. Todos estes dados se referem ao cenário perigoso para as mulheres, sobretudo as mulheres negras.
Dos diversos contextos que formam o cenário da brutalidade da violência racial e de gênero, destaco neste texto o ambiente da atual Guerra às Drogas, que tem se configurado no Brasil e no mundo como uma guerra contra as mulheres negras, indígenas e pobres. É em nome desta guerra que territórios periféricos têm sido militarizados e, com isso, uma diversidade de violação a vida e aos direitos civis.
A guerra às drogas reprograma o projeto civilizatório de genocídio, com base na violência do colonizador que funda a sociedade brasileira e se perpetua até os dias atuais. O Brasil é forjado sob o projeto genocida a populações negras e indígenas, sendo a atual política sobre drogas um mecanismo eficiente no que se refere a continuidade do genocídio e controle dessas populações.
Durante a pesquisa de mestrado (Malheiro, 2018) que desenvolvi com o objetivo de compreender melhor o uso de crack por mulheres em situação de rua, os relatos que se repetem de maneira exaustiva é que a violência de gênero tem sido a porta de entrada para o uso compulsivo de crack. Relatos de estupros cotidianos de agentes do mercado ilegal de drogas, estupros coletivos praticados por policiais, por companheiros da rua, tentativas de homicídios, espancamentos e ameaças são violências que têm gerado um sofrimento psíquico que é aliviado com o uso da droga.
Diferente do que se vê nos noticiários, não é o crack que tem destruído vidas, mas a violência racial e de gênero gerada no ambiente da Guerra às Drogas e as várias formas criadas nesse contexto para se matar fisicamente ou subjetivamente uma mulher. O uso de crack passa a ser então um mecanismo de vida e não de morte, uma forma de se manter viva em meio a um ambiente de morte e terror.
O discurso que foca na responsabilização do uso de crack pela destruição da vida de muitas mulheres, esconde a argumentação machista que responsabiliza a mulher e o seu uso de drogas, ao invés de compreender a complexidade de opressões que tem gerado sofrimento em uma diversidade de mulheres.
É imprescindível, ao discutir sobre o uso de drogas no universo feminino, refletir sobre os efeitos psíquicos de uma sociedade estruturada no mandato da masculinidade, que reatualiza o patriarcado através da reprodução da violência infringida contra o corpo da mulher. Essas formas de violência são comuns ao ambiente colonial e cumprem a função de firmar a dominação no corpo feminino e, assim, reafirmar a masculinidade colonial violenta.
A violência racial e de gênero, como parte do cotidiano das mulheres, é um fator importante para a compreensão da cultura de uso de crack. Qualquer olhar apressado, que busque compreender essa complexa questão, precisa se aprofundar nas dimensões dessas violências. Caso contrário, corre-se o risco de construir consensos que pouco colaboram para o entendimento da questão ao colocar como se o uso de drogas em si fosse um fator de risco, ou o principal problema a ser enfrentado.
ESTUPROS NOS TERRITÓRIOS DE GUERRA: DOS CRIMES DO ESTADO
Os casos de violência sexual praticado pelos agentes do Estado às mulheres que passam a ter a rua como morada e fazem uso de crack têm sido corriqueiros no contexto da cidade de Salvador. Podemos dizer que há uma epidemia de estupros que assombram cotidianamente mulheres em situação de rua.
Contra o estupro de policiais, bem como de traficantes, não há o que fazer, nem como revidar, pois, a retaliação é muitas vezes cruel. A perseguição, a possibilidade de ser presa ou morta, a ameaça com a arma são fatores que fazem com que as mulheres não pensem em denunciar, afinal, são crimes praticados por agentes de segurança pública do Estado. São casos que não entram nas estatísticas, crimes silenciados que se torna uma verdadeira forma de tortura às mulheres.
Ao analisar o estupro por gangues urbanas, Segato (2003) enfatiza a compreensão na demonstração de força e virilidade para uma comunidade de pares, que visa garantir ou preservar um lugar entre eles, provando perante os mesmos, que se tem competência sexual e força física. Trata-se mais da exibição da sexualidade como capacidade viril e violenta do que da busca de prazer sexual. Se trata mais de mostrar o seu poder e sua virilidade, do que um ato motivado pelo desejo.
O mandato da masculinidade, no contexto das guerras entre o Estado e grupos organizados em torno do mercado ilegal de drogas, precisa de comprovações públicas do seu poder. É então no corpo da mulher que se inscreve e se reatualiza a masculinidade que confere poder aos diversos grupos de agressores. Não é que os homens possam estuprar ou praticar outras formas de tortura e violência ao corpo das mulheres, mas eles devem fazer isso para firmar o seu lugar na hierarquia de gênero.
Compreendo, então, que no contexto de uma guerra militarizada, o estupro é uma arma de dominação, uma arma de repressão e subjugação dos povos dominados. Como no Vietnã, o comando militar dos Estados Unidos tornou o estupro socialmente aceitável. De fato, era uma política não escrita, mas clara (Bergman, 1975, p.63). Era uma forma eficaz de humilhar uma nação inteira.
Segundo Davis (1982), ao encorajar jovens a estuprar mulheres vietnamitas (às vezes eram orientados a revistar as mulheres com o pênis), forjou-se uma arma de terrorismo político em massa. Sigo com a ideia de que a força militar que comanda a racionalidade da Guerra às Drogas permite a reatualização da prática da violação do corpo de mulheres em uma ordem colonial que instaura o terror nos territórios.
Segato (2016) chama atenção para o registro das guerras contemporâneas. A autora aponta para a importância da difícil tarefa de redefinir o conceito de guerra a partir de novos cenários bélicos contemporâneos, como são as guerras de poderes estatais e paraestatais, que têm provocado a morte sistemática de mulheres em toda a latinoamerica. Há uma feminização destas guerras com metodologias diversas de extermínio do corpo das mulheres.
Para além do ambiente doméstico, a rua é uma zona de guerra para as mulheres. É preciso construir políticas para dar conta das violências de gênero que não acontecem no âmbito familiar ou doméstico, e que se apresentam em outras cenas públicas, para, dessa forma, conseguir desprivatizar toda a violência de gênero.
No caso da tipificação do crime de feminicídio, o que Segato nos indica é que se trata de abordar o gênero como foco e meta de agressão feminicida e femi-geno-cida (Segato, 2016). A primeira dimensão responde ao imperativo de sistematicidade e caráter genérico que a tipificação de crimes no direito penal internacional exige para reconhecer o conceito de feminicídio como um conjunto de violências dirigidas especificamente à eliminação das mulheres pela sua condição de ser mulher.
A segunda dimensão, que é a que vamos preferir para falar das mortes no contexto de guerra ás drogas, se refere, além da caracterização dos crimes, por femigenocidio, no entendimento do caráter genocida, como um crime de lesa humanidade ou crimes contra a humanidade. É um termo do direito internacional que descreve atos que são deliberadamente cometidos como parte de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil.
Nesse contexto, de maior militarização do Estado e de aumento do seu caráter punitivo, será ainda no corpo da mulher que se percebe a completa falência desta estratégia que tem provocado o surgimento de verdadeiros campos de guerra em territórios empobrecidos em todo o Brasil. Há que se reconhecer o fenômeno social do femigenocídio ligado à Guerra Às Drogas, pois estas guerras parecem estar difundindo um código social de afirmação da mortalidade feminina por grupos estatais e paraestatais.
Precisamos nos debruçar sobre a necessidade, vital para nós mulheres, de despatriarcalizar e descolonizar o Estado, a partir da disputa de outras narrativas insurgentes que passam a lutar pelo acesso aos direitos sociais do Estado. Há que se formalizar conceitos, reconstruir narrativas para conseguir entrar na inscrição da cidadania do Estado. Afinal, o Estado é o lugar de violação e morte do corpo feminino. Faz-se necessário questionar o excesso de poder sobre o corpo das mulheres, suas consequências e como, em nome de “um bem maior” – que seria a Guerra às Drogas – se alcança uma gramática cotidiana de violência.
A manutenção da colonialidade e do patriarcado se mostra como uma questão de Estado, da mesma forma que preservar a capacidade letal dos homens e garantir que a violência que cometem permaneça impune é também uma questão de Estado.
FEMINISMO ANTIPROIBICIONISTA: ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DE MULHERES EM TERRITÓRIO DE GUERRA
O projeto político que constituirá um novo marco regulatório da política sobre drogas no Brasil, deve ser elaborado a partir da participação de mulheres com trajetórias de vida marcadas pela ação repressiva e violenta do Estado – mulheres sobreviventes do Estado racista, patriarcal e proibicionista. Narrativas historicamente silenciadas precisam ganhar espaço em textos, pesquisas, espaços de militância e, sobretudo, na formulação política.
A gramática proibicionista tem constituído um campo de perda da autonomia da mulher. A política de drogas, no seu viés de guerra, é um mecanismo que permite que o Estado extermine vidas, viole corpos femininos, desrespeite e humilhe as pessoas de forma violenta. Reforça o modelo constituído pela colonialidade e pelo patriarcado, de masculinidade violenta, estereotipada e de um controle abusivo dos corpos e territórios das mulheres.
No contexto brasileiro, estamos presenciando a mudança da atual política de drogas, que passa a incorporar o discurso do aumento de pena para o tráfico de drogas, internação involuntária e aumento do financiamento público para comunidades terapêuticas religiosas – atualmente através do seu ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. O aumento do financiamento para a segurança pública e a redução dos investimentos em programas sociais, mostram a adesão do governo à lógica do Estado neoliberal punitivista e o desmantelamento do Estado de Bem estar social.
Este é o momento que precisamos ocupar os territórios de guerra, sair das zonas de conforto e travar o debate em espaços que a violência se apresenta em sua forma mais brutal. Urge a necessidade dos projetos políticos que pautem a mudança na política de drogas a partir de uma escuta ativa de territórios, pessoas, famílias e comunidades diversas que são atravessadas pelo cotidiano daquilo desta guerra.
É preciso ir ás ruas, aos presídios, nas ocupações, em espaços que resistem a violência da guerra as drogas para promover o convite ao engajamento político, de um modo de fazer política que dialogue com uma diversidade de saberes: das mulheres trabalhadoras do mercado ilegal de drogas, das mulheres em situação de rua, de cárcere, das trabalhadoras sexuais, das usuárias de drogas, as mulheres mães que perderam a guarda dos seus filhos por uso de drogas, ou as que perderam seus filhos vitimados pelo Estado.
Essas são hoje as vozes potente no caminho que nos conduzirá a um processo de descolonizar e despatriarcalizar o nosso projeto politico de mundo, a partir do qual conduziremos a política sobre drogas não mais a partir da agenda da morte proposta pelo governo federal, mas da afirmação da vida, do bem viver, da solidariedade e da redução de danos. Esse é o projeto político do direito à vida que tem conduzido milhares de mulheres organizadas em torno do feminismo antiproibicionista da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionista, a RENFA.
Diante da atual conjuntura política, devemos estar dispostas a construir uma resposta coletiva a agenda da morte do governo Bolsonaro no que tange a política sobre drogas. Nunca foi tão importante acreditar e operar outras formas de se fazer política. Como diz Kilomba (2010), é preciso criar novos papéis fora da ordem colonial, a partir da aproximação com movimentos sociais que resistem nos territórios de confronto imposto pela guerra.
Precisamos que a ocupação dos espaços de poder represente uma resposta contra hegemônica ao projeto colonial que funda essa cidade. E esse projeto só vira a partir da trajetória de lutas de mulheres com a coragem de enfrentar as pautas mais necessárias desta cidade de cabeça erguida e com o bicão na diagonal. É por isso que acreditamos no projeto de sociedade que está posto na ocupação dos espaços de poder, um projeto que possa disputar o direito a vida em meio a política da morte.
Neste sentido, a aposta nas pré-candidaturas da companheira Vilma Reis a prefeitura de Salvador e a companheira Ingrid Farias a Câmara Municipal de Recife renova em todo o campo de movimento de mulheres a esperança em se ver sendo representada na institucionalidade o nosso projeto político feminista, antirracista, antiproibicionista e descolonizador. Não aceitaremos mais uma vez que homens brancos dirijam a nossa política.
Junto com Milton Santos (1997), lembramos que descolonizar é olhar o mundo com os próprios olhos. Para descolonizar a políticas sobre drogas precisamos nos voltar ao que tem sido produzido de luta e resposta nos nossos territórios de guerra, as resistências produzidas pela luta das mulheres.
Referências Bibliográficas:
BERGMAN, Arlene Eisen. WOMEN Of VIETNAM. San Francisco. Peoples Press.1974
CERQUEIRA, COELHO. Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados da Saúde (versão preliminar). Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 2014.
DAVIS, A. Women, race and class. Nova York, Vintage Books, 1982. .
KILOMBA, Grada. Plantation Memories: Episodes of Everyday Racism. Münster: Unrast Verlag. 2. Auflage, 2010.
MALHEIRO, L. Tornar-se mulher usuária de crack: trajetória de vida, cultura de uso e políticas sobre drogas no centro de Salvador-BA. Programa de pós-graduação em Antropologia (PPGA/UFBA). 2018. Disponível em: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/28468
SANTOS, Milton. Espaço e método. São Paulo: Nobel, 1997a
SEGATO, .R.L. La estructura de género y el mandato de violación. In: Las estructuras elementales de la violencia – 1a ed. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2003.
SEGATO, R.L. Femigenocidio y feminicidio: una propuesta de tipificación. Revista Herramienta, n. 49, 2012.
SEGATO, R.L.. Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. In: La guerra contra las mujeres.ed. Traficantes de Sueños. Madrid, 2016.